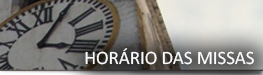Dia Mundial do Doente - 2021
 «Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos».
«Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos».
Queridos irmãos e irmãs!
A celebração do XXIX Dia Mundial do Doente que tem lugar a 11 de fevereiro de 2021, memória de Nossa Senhora de Lurdes, é momento propício para prestar uma atenção especial às pessoas doentes e a quantos as assistem quer nos centros sanitários quer no seio das famílias e comunidades. Penso de modo particular nas pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da pandemia do coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, expresso a minha proximidade espiritual, assegurando a solicitude e o afeto da Igreja.
1. O tema deste Dia inspira-se no trecho evangélico em que Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem mas não fazem (cf. Mt 23, 1-12). Quando a fé fica reduzida a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades do outro, então falha a coerência entre o credo professado e a vida real. O risco é grave; Jesus, para acautelar do perigo de derrapagem na idolatria de si mesmo, usa expressões fortes e afirma: «Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos» (23, 8).
Esta crítica feita por Jesus àqueles que «dizem e não fazem» (23, 3) é sempre salutar para todos, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, um mal muito grave, cujo efeito é impedir-nos de desabrochar como filhos do único Pai, chamados a viver uma fraternidade universal.
Como reação à necessidade em que versa o irmão e a irmã, Jesus apresenta um modelo de comportamento totalmente oposto à hipocrisia: propõe deter-se, escutar, estabelecer uma relação direta e pessoal, sentir empatia e enternecimento, deixar-se comover pelo seu sofrimento até lhe valer e servir (cf. Lc 10, 30-35).
2. A experiência da doença faz-nos sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade natural do outro. Torna ainda mais nítida a nossa condição de criaturas, experimentando de maneira evidente a nossa dependência de Deus. De facto, quando estamos doentes, a incerteza, o temor e, por vezes, o pavor impregnam a mente e o coração; encontramo-nos numa situação de impotência, porque a saúde não depende das nossas capacidades nem do nosso afã (cf. Mt 6, 27).
A doença obriga a questionar-se sobre o sentido da vida; uma pergunta que, na fé, se dirige a Deus. Nela, procura-se um significado novo e uma direção nova para a existência e, por vezes, pode não encontrar imediatamente uma resposta. Os próprios amigos e familiares nem sempre são capazes de nos ajudar nesta busca afanosa.
Emblemática a este respeito é a figura bíblica de Job. A esposa e os amigos não conseguem acompanhá-lo na sua desventura; antes, acusam-no aumentando nele solidão e desorientamento. Job cai num estado de abandono e confusão. Mas é precisamente através desta fragilidade extrema, rejeitando toda a hipocrisia e escolhendo o caminho da sinceridade para com Deus e os outros, que faz chegar o seu grito instante a Deus, que acaba por responder abrindo-lhe um novo horizonte: confirma que o seu sofrimento não é uma punição nem um castigo, tal como não é distanciamento de Deus nem sinal de indiferença d’Ele. E assim, do coração ferido e recuperado de Job, brota aquela vibrante e comovente declaração ao Senhor: «Os meus ouvidos tinham ouvido falar de Ti, mas agora veem-Te os meus próprios olhos» (Job 42, 5).
3. A doença tem sempre um rosto, e até mais do que um: o rosto de todas as pessoas doentes, mesmo daquelas que se sentem ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais que lhes negam direitos essenciais (cf. Enc. Fratelli tutti, 22). A atual pandemia colocou em evidência tantas insuficiências dos sistemas sanitários e carências na assistência às pessoas doentes. Viu-se que, aos idosos, aos mais frágeis e vulneráveis, nem sempre é garantido o acesso aos cuidados médicos, ou não o é sempre de forma equitativa. Isto depende das opções políticas, do modo de administrar os recursos e do empenho de quantos revestem funções de responsabilidade. O investimento de recursos nos cuidados e assistência das pessoas doentes é uma prioridade ditada pelo princípio de que a saúde é um bem comum primário. Ao mesmo tempo, a pandemia destacou também a dedicação e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e religiosas: com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e os seus familiares. Uma série silenciosa de homens e mulheres que optaram por fixar aqueles rostos, ocupando-se das feridas de pacientes que sentiam como próximo em virtude da pertença comum à família humana.
Com efeito, a proximidade é um bálsamo precioso, que dá apoio e consolação a quem sofre na doença. Enquanto cristãos, vivemos uma tal proximidade como expressão do amor de Jesus Cristo, o bom Samaritano, que, compadecido, Se fez próximo de todo o ser humano, ferido pelo pecado. Unidos a Ele pela ação do Espírito Santo, somos chamados a ser misericordiosos como o Pai e a amar, de modo especial, os irmãos doentes, frágeis e atribulados (cf. Jo 13, 34-35). E vivemos esta proximidade pessoalmente, mas também de forma comunitária: na realidade, o amor fraterno em Cristo gera uma comunidade capaz de curar, que não abandona ninguém, que inclui e acolhe sobretudo os mais frágeis.
A propósito, quero recordar a importância da solidariedade fraterna, que se manifesta concretamente no serviço, podendo assumir formas muito diferentes mas todas elas tendentes a apoiar o próximo. «Servir significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo». Neste compromisso, cada um é capaz de, «à vista concreta dos mais frágeis (...), pôr de lado as suas exigências e expectativas, os seus desejos de omnipotência (...): o serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade e, em alguns casos, até “padece” com ela e procura a promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideias, mas pessoas» (Francisco, Homilia em Havana, 20/IX/2015).
4. Para haver uma boa terapia é decisivo o aspeto relacional, através do qual se pode conseguir uma abordagem holística da pessoa doente. A valorização deste aspeto ajuda também os médicos, enfermeiros, profissionais e voluntários a ocuparem-se daqueles que sofrem para os acompanhar ao longo do itinerário de cura, graças a uma relação interpessoal de confiança (cf. Nova Carta dos Agentes da Saúde, 2016, 4). Trata-se, pois, de estabelecer um pacto entre as pessoas carecidas de cuidados e aqueles que as tratam; um pacto baseado na confiança e respeito mútuos, na sinceridade, na disponibilidade, de modo a superar toda e qualquer barreira defensiva, colocar no centro a dignidade da pessoa doente, tutelar o profissionalismo dos agentes de saúde e manter um bom relacionamento com as famílias dos doentes.
Tal relação com a pessoa doente encontra uma fonte inesgotável de motivações e energias precisamente na caridade de Cristo, como demonstra o testemunho milenar de homens e mulheres que se santificaram servindo os enfermos. Efetivamente, do mistério da morte e ressurreição de Cristo, brota aquele amor que é capaz de dar sentido pleno tanto à condição do doente como à da pessoa que cuida dele. Assim o atesta muitas vezes o Evangelho quando mostra que as curas realizadas por Jesus nunca são gestos mágicos, mas fruto de um encontro, uma relação interpessoal, em que ao dom de Deus, oferecido por Jesus, corresponde a fé de quem o acolhe, como se resume nesta frase que Jesus repete com frequência: «A tua fé te salvou».
5. Queridos irmãos e irmãs, o mandamento do amor, que Jesus deixou aos seus discípulos, encontra uma realização concreta também no relacionamento com os doentes. Uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros frágeis e atribulados e o fizer com uma eficiência animada por amor fraterno. Tendamos para esta meta, procurando que ninguém fique sozinho, nem se sinta excluído e abandonado.
Todas as pessoas doentes, os agentes da saúde e quantos se prodigalizam junto dos que sofrem, confio-os a Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos Enfermos. Que Ela, da Gruta de Lurdes e dos seus inumeráveis santuários espalhados por todo o mundo, sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar uns dos outros com amor fraterno. A todos e cada um concedo, de coração, a minha bênção.
Papa Francisco
Mensagem para o Dia Mundial do Doente
Roma, 20 de dezembro de 2020.
Eduardo Lourenço e Deus
 1. Sobre Eduardo Lourenço, o filósofo, o ensaísta, o pensador — um dos mais lúcidos do nosso tempo —, o crítico da arte, das múltiplas artes, nomeadamente da literatura e da música..., outros já falaram e escreveram.
1. Sobre Eduardo Lourenço, o filósofo, o ensaísta, o pensador — um dos mais lúcidos do nosso tempo —, o crítico da arte, das múltiplas artes, nomeadamente da literatura e da música..., outros já falaram e escreveram.
Encontrei-o várias vezes e gostaria de deixar aqui breves reflexões sobre o tema em epígrafe, a partir de alguns desses encontros, sempre iluminantes para mim.
2. 1. Participámos no Encontro de Lisboa, organizado pelo GOL — era então Grão-Mestre António Reis —, subordinado ao tema “Religiões, Violência e Razão”. E diz-me Eduardo Lourenço mais ou menos assim: Ainda bem que também cá está, porque se o meu avô me visse aqui...
A abrir o Encontro, falou da estranha crise contemporânea. Enquanto o Ocidente se desertifica de Deus, noutras culturas não só não há morte de Deus como, em vez da laicização, continuam na sua Idade Média, acreditando que o seu Deus é o verdadeiro e o Ocidente está em vias de perdição. De facto, o Ocidente teve um dinamismo incomparável, e a razão disso é que o seu debate foi sempre à volta de Deus. Noutras culturas, Deus é um dado e está no centro de tudo; no Ocidente, Deus tem sido uma interpelação infinita. Deus não é uma evidência, porque não é um objecto. Deus é o nome, precisamente enquanto anti-nome, da nossa incapacidade de captar o Absoluto, o modo de designarmos a nossa incapacidade de ocuparmos o seu lugar. O Ocidente é a procura e o debate à volta desta questão. É-se contra a objectivação de Deus, porque Deus-pessoa não é objectivável. Deste modo, o Ocidente afirma-se como procura da liberdade. Quando, noutras culturas, se dá a pretensão de apoderar-se de Deus, temos fanatismo.
E continuou, dizendo que, quando se dogmatiza, é para dominar. A perspectiva cristã caminha sobre outro chão. Aqui, Deus aparece como não violência, como puro amor, como espaço de liberdade absoluta. Sem Ele, as nossas liberdades não têm lugar. Ao revelar-se como amor, Deus mostra que, se a violência é o estado natural, a não violência é que é o mistério, e o que liberta é o não poder.
2. 2. De outra vez, vínhamos de um debate, já tarde na noite, do Casino da Figueira para o hotel. E eu disse-lhe que o tinha citado num artigo, pois dissera ao EXPRESSO que lhe “pode acontecer rezar”. E ele: “Admira-se? Todas as pessoas rezam”.
2. 3. Em 2016, estivemos de novo no Casino da Figueira, para um debate sobre “Utopia e distopias”. Nele, reflectiu sobre a herança europeia, atravessando a Grécia, a cristianização, o humanismo..., e desembocando nos nossos dias, com esta afirmação: a Europa “nunca esteve tão confrontada com um desafio tão novo”, e “o centro da crise está em França, que está a discutir se tem ou não identidade, e isso é de ficar aterrado”. Daí passou para o medo que a Europa enfrenta em relação ao mundo islâmico, considerando que “o maior aliado do islão é a Arábia Saudita, país que alimenta o cruzadismo que vem desse lado. Mas o mundo tornou-se tão pequeno que nada se pode pôr à margem”.
E ficou-me este aviso: A força e o poder de Vladimir Putin vêm-lhe de ele considerar “a Santa Rússia” como a última barreira contra a islamização da Europa.
2. 4. Devo uma palavra de especial gratidão a Eduardo Lourenço pelo prefácio luminoso, logo no título: “Suicidário Ocidente”, seguido do dito célebre de Fernando Pessoa “Não haver Deus é um Deus também”, com que honrou o meu livro “Deus Ainda Tem Futuro?” (2014). Ficam aí alguns parágrafos.
“Enquanto Ocidente, o nosso mundo conhece uma desertificação religiosa sem precedentes e, na aparência, irremediável. Tal é o diagnóstico de Marcel Gauchet, um dos seus paradoxais exegetas inconformado com essa nova versão da tão glosada “morte de Deus”, vivência radical da ausência de sentido para a Vida em si mesma e nós nela. Distingue-se esta nova situação do canónico “ateísmo” que sob a figura da negação de Deus era ao mesmo tempo uma figura da certeza, a mais radical de todas.
... o conteúdo único daquilo que ainda chamamos “história humana” não explicita uma luta análoga a uma fábula à Saramago, um desafio mítico entre o Homem e Deus, mas uma luta sem fim do Homem consigo mesmo como o Outro, com a inconsciente esperança de que o vencedor dela seja enfim o Deus criador e todo-poderoso que nos forneceu o modelo da vontade de poderio que é a essência demoníaca da Humanidade.
Questão atrevida e que na verdade soa a blasfémia (ou soaria, se a formulássemos em terras do islão) esta, que sabemos grave e urgente como nenhuma outra para ocidentais em vésperas de descerem a novas catacumbas: Deus ainda tem futuro? Quando aquela, menos vertiginosa mas não menos apocalíptica, seria: O Homem, a Humanidade, ainda tem futuro?
... Não tardará muito que entremos no tempo da hipercomunicação com o mundo à volta convertido numa espécie de deserto ignorado dos antigos. Foi desta autodesertificação que a dúvida apenas formulável acerca de Deus pôde nascer. Não esperemos que o Deus imaginado por nós como sem futuro venha, como o Cristo de um célebre conto de Eça de Queirós, confirmar-nos que ainda está entre nós. Do silêncio de Deus que nós mesmos criámos não virá nenhum socorro. É diante dele como Ausência suposta e Presença agostinianamente mais interior a nós do que nós que somos convocados para fazer prova de vida. E de vida eterna. A única que nos ajuda a suportar todas as ausências dos que nesta vida nos foram, à maneira de Dante, reflexos de uma Luz mais clara do que a do sol e das estrelas.”
3. O Deus de Eduardo Lourenço era o Deus de Jesus e dos místicos.
Anselmo Borges, in Diário de Notícias, 05-12-2020, p. 35
As palavras que Eduardo Lourenço nos iluminou
 A celebração das exéquias de Eduardo Lourenço ocorreu no Mosteiro dos Jerónimos, no dia 2 de Dezembro de 2020, e foi presidida por S. Eminência Reverendíssima D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa; a homilia foi proferida pelo cardeal D. Tolentino Mendonça. Partilhamos aqui as suas sábias palavras:
A celebração das exéquias de Eduardo Lourenço ocorreu no Mosteiro dos Jerónimos, no dia 2 de Dezembro de 2020, e foi presidida por S. Eminência Reverendíssima D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa; a homilia foi proferida pelo cardeal D. Tolentino Mendonça. Partilhamos aqui as suas sábias palavras:
«Estamos aqui num dos mais emblemáticos lugares portugueses, neste “jardim de pedra” como um dia Eduardo Lourenço chamou ao Mosteiro dos Jerónimos; estamos aqui mulheres e homens, crentes e não crentes, no contexto desta liturgia cristã para expressar a mais comovida gratidão pela vida de Eduardo Lourenço.
Normalmente a morte tem uma dimensão pessoal e o luto que nos atinge, desabrido, ardente e radical, tem uma conjugação no singular. Eduardo Lourenço também viveu assim os seus lutos. Lembro um dos últimos, há precisamente sete anos atrás, quando morreu a sua mulher, Annie. Há um manuscrito de Lourenço onde se pode ler: “A Annie acaba de morrer. Eram quatro horas menos um quarto deste 1º de Dezembro, de 2013…” E continua: “A longa agonia silenciosa da Annie […] restitui à vida uma espécie de esplendor póstumo, o da ausência tornada enfim sensível. De fora fica apenas o lençol branco da minha inexistência sem ela.” Ou recordo um dos seus primeiros lutos, sigilado na forma de dedicatória do seu livro de estreia, quando corria o ano de 1949: “Em memória do Cap. Abílio de Faria e de Maria de Jesus Lourenço, meus pais”.
Quase quarenta anos mais tarde, numa reedição dessa obra inaugural, que como se sabe é Heterodoxia I, Eduardo Lourenço escreveu um prefácio intitulado “Escrita e morte”. Da leitura desse texto (que na verdade é um precioso exercício de releitura que o escritor faz de si, e da génese do seu percurso) há duas declarações que se destacam. A primeira diz respeito apenas a ele, pois se trata da confissão pessoalíssima do impacto incalculável que nele teve o luto dos seus pais: “Este livro foi publicado quatro meses após a morte do meu pai. Minha mãe morrera um ano antes. Sem a sua morte nem estas páginas, nem nenhumas outras […] teriam existido”. Mas a outra declaração diz respeito a todos nós, pois lhe serve para explicar a sua vocação ensaística. O ensaio, diz ele, “é a forma escrita do discurso virtual de uma existência que renunciou às certezas, mas não à exigência de claridade que nelas, em permanência, se configura. Em boa verdade – continua – não há ensaísmo feliz. Na sua essência é uma escrita do desastre, pessoal ou transpessoal. Para ser mais justo, é uma estratégia natural para tempos calamitosos, como os de Montaigne. […] Retirado na sua torre, o autor não se desinteressou dos negócios humanos – nem mesmo dos divinos -, limitou-se a retirar a caução transcendente ao que visivelmente era da ordem do puramente humano, relativizando o olhar dos homens sobre os seus próprios atos… A tragédia está na história, é inerente à história. Adotar a perspetiva ensaística não é ignorá-la, é tentar precariamente – sem isso cederíamos à paixão totalitária – contê-la nos limites do humanamente aceitável”.
Há lutos que se vivem no domínio pessoal, pois dizem respeito à nossa pequena história. E há lutos que excedem esse domínio, pois se configuram como uma experiência de perda coletiva. Escutando este parágrafo programático de Lourenço percebemos como o seu luto tem para nós essa natureza. Quando morre um escritor, a literatura fica enlutada. Mas também acontece – mais raramente é verdade, mas acontece – que, com alguns escritores, a própria literatura, ou uma ideia de literatura ou uma inteira época da literatura morra com eles. Pois naquele criador que partiu os leitores de uma geração (que até pode ser de uma geração futura) reconhecem uma razão, uma sabedoria, uma verdade ou um fulgor onde se encontraram refletidos, interrogados, transportados a uma fronteira de si próprios e do mistério. Isso que, por exemplo, Pietro Bembo esculpiu tão bem como epitáfio no túmulo do pintor Rafael: “Aqui jaz Rafael, que enquanto vivo a natureza temeu por ele ser vencida; mas que agora morto a natureza teme morrer com ele.” Com razão, todos tememos morrer um pouco na morte deste homem que jaz hoje diante de nós.
Mas ensinar a morrer é, como dizia Cícero, o objetivo do mestre que ensina a filosofia. E Montaigne, o inventor moderno dos ensaios, escreveu que quem aprendeu a morrer venceu a sujeição, ultrapassou já a condição de escravo. A Eduardo Lourenço devemos a lição de interrogar não só a vida, mas também a morte com sabedoria, distanciamento e serenidade, lutando para conter a história nos limites do humanamente aceitável, tarefa como sabemos trabalhosa e inacabada, mas também indeclinável se quisermos que a civilização e o humanismo sejam mais do que uma abstração. A Lourenço devemos além disso uma rara capacidade de cuidar da ideia de comunidade, reforçando sempre o nosso conjunto como nação, elucidando a experiência de bem comum que é um país, indicando a cartografia mental e espiritual sem a qual não se entende a geográfica nem nenhuma outra, mostrando-nos, por exemplo, que todos somos habitantes da solidão de Pessoa e do profetismo de Antero ou de Agostinho da Silva, do levantamento do chão de Saramago e dos acordes insubmissos de Lopes Graça, da religiosidade que uniu Régio e Manoel de Oliveira, dos socalcos durienses de Agustina e da praia lisa que Sophia sonhou. Nos milhares de páginas que escreveu, talvez se veja que a ideia de comunidade foi aquela que afinal ele mais perseguiu e que esta constituiu a sua paixão maior.
Teixeira de Pascoaes, que escreveu Arte de Ser Português, quis ser enterrado num caixão em forma de lira. O caixão de Eduardo Lourenço tem, qualquer que seja a sua forma, a forma de Portugal, do qual ele foi (e será para muitas gerações futuras) um explorador e um cartógrafo, um detetive e um psicanalista do destino, um sismógrafo e um decifrador de signos, uma antena crítica e um instigador generoso e iluminado. Depois dele, todos podemos dizer que nos entendemos melhor a nós próprios.
Escutamos nesta Eucaristia um trecho do livro de Job, a mais inconformada figura sapiencial da Bíblia, na qual cada um de nós pode rever, como em espelho, a sua inquietação e ver ativado o motor de busca das próprias interrogações. Na liturgia hodierna a voz de Job soa como uma espécie de grito: “Quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou gravadas em bronze com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre!” Este grito abre-nos à escuta das razões profundas que estão por detrás da invenção dos alfabetos e da escrita, ajuda-nos a compreender que a história do livro não é apenas a história cultural de um artefacto utilizado para a transmissão do conhecimento. A história do livro é, antes de tudo, a história do desejo humano de permanecer, de vencer a morte, de experimentar sobre a terra algo mais do que uma precária verdade destinada ao esquecimento. Voltamos sempre à mesma sede de transcendência, à mesma desabalada paixão de eternidade, ao mesmo dramático grito para que a existência humana não se consume como mera passagem. Tornamos sempre, para recorrer a uma expressão de Lourenço, à “insepulta nostalgia de Deus”.
Nostalgia de Deus que era também a dele. Um dia na televisão alguém o interrogou: “Professor, o que pensa de Deus?”. E a resposta dele abriu um alçapão, trazendo à superfície aquele arrepio sideral do infinito de que falava Pascal. “Sabe – respondeu ele calmamente –, mais importante do que dizer o que penso de Deus é saber o que Deus pensa de mim”.
É precisamente daí, da contemplação do que Deus pensa de nós, que São Paulo partirá para escrever a intensa página que hoje proclamamos: “Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, gememos interiormente, esperando a adoção filial”.
Quem conheceu Eduardo Lourenço ouviu-o certamente rir e sorrir muitas vezes: com os outros, consigo mesmo, com as histórias que contava, com as suas curiosidades, as suas manhas de contador, os seus deleites. E recordará para sempre essa associação entre alegria e sagacidade, entre aquela extrema inocência que nos surpreende nos muito sábios e aquela inimitável ironia que nele era também um modo de maturação e de juízo. A imagem dele a sorrir há de, por isso, acompanhar-nos. Só uma vez o vi chorar. Fiquei completamente desconcertado, porque nada na nossa conversa me alertara para a eminência daquela sua emoção torrencial. Estamos a falar de textos bíblicos, saltando sem cautelas de uma personagem para outra e, de repente, ele tropeçou, como o apóstolo Paulo terá tropeçado, na palavra Jesus. E os seus olhos se encheram de água e a voz de silêncio e soluços. Passou muito tempo para que me dissesse chorando: “Não há nada superior a Jesus. Já imaginou um Deus que diz bem-aventurados os pobres, os humildes, os misericordiosos, os puros de coração, os perseguidos, os que têm fome e sede de justiça, os que promovem a paz. Não há nada superior a isto”.
Agradeçamos ao Deus dos vivos e dos mortos; agradeçamos ao Deus fiel a todas as nossas perguntas, sobretudo àquelas para as quais não encontramos reposta; agradeçamos ao Deus que se debruça sobre as nossas procuras, que anota estes nossos passos balbuciantes, este nosso tatear como se na ausência víssemos o invisível; agradeçamos ao Deus das Bem-Aventuranças as palavras que Eduardo Lourenço nos iluminou sorrindo e aquelas para cujo sentido ele nos abriu chorando.»
Cardeal D. José Tolentino de Mendonça
 Uma “ausência luminosa”
Uma “ausência luminosa”
No final da missa, D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa, convidou ao conhecimento da obra de Eduardo Lourenço, que “deixou páginas fundamentais” para se perceber “o que é ser português, europeu e cidadão do mundo” e sublinhou o contributo “muito consistente” do ensaísta.
Eduardo Lourenço “foi alguém que durante toda a sua vida nos fez interrogar sobre o que somos, como pessoas e como portugueses, como europeus e cidadãos do mundo, e essa interrogação permanente […] ajudou-nos a todos a crescer”, afirmou, referindo ainda a “inquietação” sobre Deus que o ensaísta “transportou durante toda a sua vida”, transportada desde a infância.
E a propósito da pergunta feita na televisão a Eduardo Lourenço – "o que Deus pensa de mim?" –, D. Manuel Clemente comentou: “Acreditamos que na raia do Céu, onde finalmente chegou, esta pergunta que o manteve, proferida ou sentida, teve e tem absoluta resposta. Ele agora sabe o que Deus pensa dele. E posso adivinhar, com toda a certeza, que pensa muito bem!”
Também em declarações já no exterior da igreja, D. Tolentino Mendonça sublinhou ainda o contributo de Eduardo Lourenço como “teórico da ausência”. E explicou: “Ele falou da presença de Deus contando quão ardente, quão insepulta, quão irresolúvel, quão irremovível é a ausência de Deus. É um falar de Deus pela negativa – não a presença, mas a ausência – mas aqui a ausência era tão luminosa e vibrante, ressoava tanto, que é um dos autores fundamentais para, em Portugal, pensarmos a questão de Deus.”
“Nas milhares de páginas que escreveu, acrescentou, em que falou dos poetas, músicos e cineastas, estava a dizer que o trabalho criativo desenvolvido por portugueses e portuguesas ao longo do tempo, com temperamento e percursos e géneros tão diversos, no fundo, estávamos todos a construir uma casa espiritual comum.”
Na morte de Eduardo Lourenço
 «Há dias em que madrugamos e julgamos que vamos apanhar Deus. Em vão: Deus levanta-se sempre mais cedo!...», escreveu um dia Eduardo Lourenço, com aquele inconfundível matiz de humor que por vezes punha nos mais fundos confrontos com a gravidade da vida. Hoje, bem cedo, partiu, pôs-se a caminho da reintegração na plenitude ontológica, para ser acolhido anterianamente «Na mão de Deus, na Sua mão direita»…
«Há dias em que madrugamos e julgamos que vamos apanhar Deus. Em vão: Deus levanta-se sempre mais cedo!...», escreveu um dia Eduardo Lourenço, com aquele inconfundível matiz de humor que por vezes punha nos mais fundos confrontos com a gravidade da vida. Hoje, bem cedo, partiu, pôs-se a caminho da reintegração na plenitude ontológica, para ser acolhido anterianamente «Na mão de Deus, na Sua mão direita»…
Aí, no resplendor da Transcendência eterna, a graça do resgate pacificará agora a radicalidade interrogativa do pensamento de Eduardo Lourenço e o seu confronto inquieto com o sentido do trágico, ponderado em autores que particularmente o atraíram e vivido na perspetivação do seu próprio destino.
Aí encontrará feliz desenlace o processo existencial e fenomenológico em que terrenamente se cumpriu Eduardo Lourenço, tão tocado pelo abalo metafísico do encontro com Kierkegaard e com F. Pessoa, em ordem à edificação de uma sabedoria trágica da vida – que ultimamente mais lhe pareceria conciliável com a adesão a Cristo, Mediador amoroso que podia ver, entre Gomes Leal e René Girard, como o grande Reparador.
Aí, junto ao Senhor do Tempo e da Vida, alcançará sentido último o fecundo labor cultural e cívico em que durante décadas Eduardo Lourenço ajudou à construção do Mundo através de um raro movimento entre aos mais amplos horizontes da filosofia da História humana ou da renovadora mitografia do ser lusíada e a atenção lúcida à circunstância nacional e internacional, o discurso compreensivo e crítico sobre os problemas culturais e sociais emergentes no mundo contemporâneo, a palavra interventiva no contexto político.
Aí, junto à fonte da Beleza conhecerá toda a harmonia todo o fulgor a poética da digressão ensaística e a alta qualidade literária, algo wagneriana, da escrita de Eduardo Lourenço, tal como conhecerá toda a harmonia o tom cativante do magistério oral em que irradiava a sua qualificada condição de filósofo e a sua insuspensa questionação dos acontecimentos coetâneos.
Aí, no seio divino da Verdade e do Bem, alcançará justa compensação o denodo com que Eduardo Lourenço sempre se comprometeu com a «obrigação de suportar a liberdade humana» em todos os domínios e sempre sustentou, com desassombro e brilho, que a sua demanda de Conhecimento se queria coerente com o horizonte da «vivência mesma da Verdade» e que nela obedecia, «por temperamento e por formação espiritual», à «única motivação radical» que «finalmente é como decisão de ordem “religiosa" e mesmo "mística" [...] que melhor se compreenderá» («Segundo Prólogo sobre o Espírito de Heterodoxia»).
Custa menos, assim, despedirmo-nos de Eduardo Lourenço, em nome do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura – que se orgulha de lhe haver atribuído, após voto unânime do respetivo Júri, o Prémio Árvore da Vida 2020. É-nos grato recordar, aliás, a admiração com que Eduardo Lourenço então evocou a figura do patrono desse Prémio, o emérito Padre Manuel Antunes, e assinalou algumas afinidades de espírito entre ambos.
José Carlos Seabra Pereira, in www.snpcultura.org, 01.12.2020
Eduardo Lourenço: «Deus levanta-se sempre mais cedo»
 A trajetória do pensamento filosófico de Eduardo Lourenço e, em particular, a deriva da sua metafísica da interrogação surge indelevelmente marcada pela sua experiência interior, própria da família espiritual dos místicos e poetas. Místico que se julgou sem fé, como um dia se retratou na revista Prelo (Maio 1984), e poeta quase sem versos, para fortuna nossa Eduardo Lourenço não pôde professar no tal convento de que Álvaro de Campos seria o Superior. E a contemplação da Ausência divina, «Perdida voz que de entre as mais se exila», volveu-se, uma e outra vez, em demanda no nosso mundo do Sentido fundante — demanda também sortílega, como a da «flauta flébil» de Pessanha na «escuridão tranquila», remindo a dor que o Outro, nele, «sem razão deplora»…
A trajetória do pensamento filosófico de Eduardo Lourenço e, em particular, a deriva da sua metafísica da interrogação surge indelevelmente marcada pela sua experiência interior, própria da família espiritual dos místicos e poetas. Místico que se julgou sem fé, como um dia se retratou na revista Prelo (Maio 1984), e poeta quase sem versos, para fortuna nossa Eduardo Lourenço não pôde professar no tal convento de que Álvaro de Campos seria o Superior. E a contemplação da Ausência divina, «Perdida voz que de entre as mais se exila», volveu-se, uma e outra vez, em demanda no nosso mundo do Sentido fundante — demanda também sortílega, como a da «flauta flébil» de Pessanha na «escuridão tranquila», remindo a dor que o Outro, nele, «sem razão deplora»…
Entre a usura da pré-moderna formação católica, recebida como usquiano leite que mamou, e a segura repulsa por qualquer sucedâneo de presúria de Deus, entre a indisponibilidade para a aceitação existencial do Absurdo e a persistência, sobre paradoxal teologia negativa, da propensão para um cristianismo existencial, a aventura espiritual de Eduardo Lourenço e a tensão metafísica que lhe é inerente tem-se desenvolvido em insuspensa relação com a Ausência divina e em resistente suspensão do 'salto da fé' kierkgaardiano. Todavia, mesmo depois do encontro com a poesia de Pessoa — assimilada como «sendo no mais alto grau poesia do próprio desastre que exemplifica» e vivida como «o mais profundo e lancinante apelo que o espírito moderno (...) a si próprio se endereça para reconquistar um sentido para o próprio universal desastre» —, nem desolação nem desespero devastam a heterodoxia virtuosa de Eduardo Lourenço.
Se esta, já na fase juvenil, assumia com Aristóteles «que ninguém pode atingir adequadamente a verdade, nem falhá-la completamente», no seu devir de interrogação metafísica esse princípio se reflectirá no horizonte que Deus permanece. Fazendo pensar na Simone Weil de La Pesanteur et la Grâce (especialmente na abertura de «L'athéisme purificateur»...), Eduardo Lourenço foi discernindo que, nos termos da sua colaboração no célebre caderno Deus o que é? da revista O Tempo e o Modo (1968), «Quando nós falamos de Deus nós falamos sempre de "outra coisa", mas isto não nos autoriza a concluir que através dessa "outra coisa" não seja de Deus que estejamos falando».
Desde então, é nesse tipo de confrontação com a Transcendência que Eduardo Lourenço debate o destino do Homem; é aí que ele mesmo se bate, ressalvando recorrentemente que não se tem por capaz de definir qual é o seu tipo de experiência em relação à simples palavra, à simples evocação do nome 'Deus', mas ainda afirmando com clareza nos fins do milénio: «(...) só Deus ou mais abstractamente a esfera do religioso realmente me interessam ou interessam. Tudo o mais são arredores de mim ou de quem imagino ser.» (Ciberkiosk, nº 3, 1998).
Omnipresente como horizonte da problemática radical, ou questão englobante que está sempre no horizonte, essa "outra coisa" com nome de "Deus" — ou antes, como escreveu no prefácio aos Diálogos sobre a Fé travados por D. José Policarpo e Eduardo Prado Coelho, «aquele que designamos por Deus, como se o pudéssemos nomear quando a sua essência é ser precisamente inominável» — não é, para Eduardo Lourenço, «questão de Deus, é a nossa questão». Tanto mais inquietante quanto a inelutável incomensurabilidade da transcendência divina e do conhecimento que dela o Homem pretende ter em discurso filosófico ou teológico, fica patente em reiterados argumentos ou em desenvoltos achados imagísticos – a exemplo de «Há dias em que madrugamos e julgamos que vamos apanhar Deus. Em vão: Deus levanta-se sempre mais cedo!...» (cf. «Eduardo Lourenço no CADC», in Estudos, Nova Série, nº1, 2003).
O Deus que está em causa na relação esquiva com Eduardo Lourenço não é «o conceito de uma causa das causas, ou a imagem de um princípio ou de um movimento como o motor imóvel de Aristóteles, não a personificação mítica do ato modelador da matéria como o Demiurgo platónico, mas o Deus vivo de que fala o texto sagrado, Verbo que cria pela proferição da sua essência comunicante»; e é significativo que este nosso pensador, no qual o diálogo com Kant nunca de todo se exauriu, atualize a sensibilidade à ideia de Deus como o Criador-Comunicador que no texto bíblico se explicita através «dos céus que narram a sua glória»
Mas não se entenderá a demanda espiritual de Eduardo Lourenço se não se tiver presente que só quer «entre-avistar» o lugar, aliás inocupável, de Deus porque esse seria o lugar que resolveria as questões, permitindo «identificarmo-nos com o amor no diálogo com o outro». Por isso, lúcidos intérpretes da sua obra (como Fernando Catroga e Miguel Serras Pereira) têm evidenciado um homo dolens que sofre luto indefinido pelo lugar impossível de Deus e, ao mesmo tempo, se resgata na contemplação trágica do drama de Cristo, arquétipo da abertura amorosa do Eu ao outro.
Esta é a singular feição religiosa que em Eduardo Lourenço ganha a nossa questão, que não é menos a questão do Sentido e do Tempo, ou do Sentido para o Tempo.
Aí se trava o combate fundamental da sua metafísica trágica e da sua aspiração ética, na medida em que, pelos caminhos da discontínua especulação filosófica, da mitografia cultural, das «mil e uma reflexões que a realidade literária lhe tem suscitado» e das intervenções de magistério cívico, se joga, uma e outra vez, a viabilidade de um acerto metafísico-existencial, de um sentido verdadeiro do Tempo e da sua vivência na História.
Tendo um dia esclarecido que uma sua hipotética obra sistematizada de reflexão filosófica tematizaria justamente O Tempo e o Ser (em lugar de O Ser e o Tempo), Eduardo Lourenço tem pensado a questão, como é seu apanágio, de par com a sua própria vivência da temporalidade (que, englobando o elemento do «esquecimento», se conexiona com uma vivência da História como sucessão de fragmentos de tempo e buracos negros). Na sua juvenil deriva filosófica, como na subsequente entrega à literatura, dirá que tem pretendido ajustar as suas próprias contas com «essa fonte de todas as ficções a que chamamos, para ter direito ao mundo, o Tempo». Boa parte das suas reservas ao espírito pós-moderno releva da denúncia de «ausência de peso ontológico» em relação ao tempo, vivenciado nesse reino do esvaziamento no efémero e no sem-sentido, nesse Esplendor do Caos desencontrado do valor moderno da historicidade. A política, enquanto promoção de metamorfose cultural, só colhe sentido se inscrita na mesma interrogação radical sobre o tempo. A própria interpretação mitográfica da dramaturgia cultural portuguesa se vincula à confrontação da condição humana no Tempo. A leitura da criação literária impõe-se, em boa parte, porque se tem revelado mediação privilegiada para a percepção de uma presença real do tempo e para aprofundar o essencial, a saber: «um certo número de interrogações que colidem com o conceito tradicional de História e a par dele, como seu pressuposto transcendental, a própria noção de Tempo».
Com Antero e Heidegger, nessa vivência problemática do Tempo inscreve-se a tensão aberta da finitude e a consciência da Morte — chaga da condição humana, mas também condição potenciadora da historicidade e da eticidade, fonte do trágico e possibilidade de sua positiva assumpção. Se todo o risco é uma oportunidade — e, sobretudo, uma oportunidade de livre auto-superação humana —, para Eduardo Lourenço a realização histórica da condição humana cifra-se numa permanente situação de risco. A lucidez de não escamotear a «contradição viva que é a História», tal como a admira em Oliveira Martins, constitui-se em valorização da dramaticidade da História onde cada homem e cada destino coletivo enfrentam uma «luta de morte, em sentido próprio» — não para se alienar na rasura do trágico, mas para «conferir o máximo de sentido à vida».
Pela sua parte, Eduardo Lourenço envolve-se nesse bom combate com aquele «mínimo de esperança» que sempre se concedeu para suportar a sua confessa «visão do universo e da vida de essência trágica». Com efeito, na senda da desvelação moderna de um novo trágico, que o desassombrado visitador de «O gibão de Mestre Gil» já sublinhava, e até à não menos lúcida detecção de um trágico pós-moderno de segundo grau (oculto sob o silenciamento da interrogação ou disfarçado na euforia lúdica), Eduardo Lourenço não tem iludido a vivência trágica da condição humana e da sua relação com o tempo, com a história e a Transcendência, mas também dobradamente com a linguagem (trágica na sua impotência para nomear a opacidade da existência e trágica na cisão do Ser que toda a expressão instaura). Pelo contrário, essa vivência trágica tem sido o pão ázimo de toda a jornada, incertamente pascal, de Eduardo Lourenço. Entre asserções e figurações inequívocas, aí está para o selar a recorrência metamórfica da Esfinge — que, pelo menos desde um belo ensaio de 1951 na revista Árvore, até a fonte oracular da Poesia chama a si!
A vivência trágica não encontra antídoto nem lenitivo na perspetiva antropológica de Eduardo Lourenço e na sua visão da história. Ao invés, «um grande sentimento da dramaticidade», que a esta é intrínseca, conjuga-se com uma desassombrada desidealização antropológica, à luz da qual «todos nós temos raízes no mal»: «a humanidade é sempre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Possivelmente aquilo a que chamamos santos são homens que têm a mais intensa consciência da sua parte demoníaca...»
Todavia, tal como esses «descobrem a maneira de a vencer», Eduardo Lourenço não renuncia à esperança, virtude cristã decerto alimentada pela sua convicção de que Jesus modifica o sentido da História e de que a voz que fala nos Evangelhos sustenta as melhores aspirações da Humanidade.
Nem a inquietação ética de Eduardo Lourenço renuncia à aspiração utópica como ideal regulador e vigiado mito galvanizante. E assim, o homem cordial que é Eduardo Lourenço mostra-se muito sensível ao que, a propósito de Shakespeare, considerou em Destroços o «mais melancólico fracasso humano: o da incomunicação», agravado no ser-mónada à maneira do Livro do Desassossego. Consequentemente, tem exercido um magistério cívico e cultural de sageza e utopia, em prol da axiologia da fraternidade cristã e da sua atualização sociopolítica.
José Carlos Seabra Pereira, in www.snpcultura.org, 07.04.2020
Eduardo Lourenço em 40 frases
 Portugal e Europa, vida e morte, cultura e Pessoa, tempo e poesia, língua e pensamento, religião e artes, o próprio e os outros. Sobre tudo isto refletiu Eduardo Lourenço.
Portugal e Europa, vida e morte, cultura e Pessoa, tempo e poesia, língua e pensamento, religião e artes, o próprio e os outros. Sobre tudo isto refletiu Eduardo Lourenço.
INFÂNCIA
"[A memória mais antiga que tenho] é a do Porto. Embora tenha nascido na Beira, numa terrinha, vim para aqui pequeno. As primeiras imagens que tenho da vida são do nevoeiro, das fábricas, do nevoeiro que atiravam as chaminés. A família repercute esse género de memórias. Lembro-me da frescura de uma fonte onde o meu pai, que era militar, ia buscar água - é uma imagem rústica daquilo que era uma cidade. A imagem que mais me aterroriza, quando estou distraído, é a imagem de um vermelho sangue, que penso que era de um camião que distribuía a carne. Uma outra imagem, que não é do Porto, mas de Matosinhos, creio eu, é a da primeira vez que vi o mar. Da minha aldeia não se via o mar." DNa, Diário de Notícias, 2003
VIDA
"A própria vida produz sentido sem nos pedir explicações. Não há uma determinação e um projeto concertado de atingir um tal fim ou tal objetivo, ou ter aquilo a que se costuma chamar de carreira, de correr para uma meta específica. Tenho vivido deixando-me surpreender." "Entre Nós", Universidade Aberta, 2002
"Em geral, nós somos o discurso dos outros. Nós, por nós próprios, não temos discurso. Não devemos ter. Mas mesmo que quiséssemos ter também não tínhamos. Agora, cada um, no seu relacionamento com o outro tem uma imagem. Culturalmente, no domínio da imagem pública, sou um ensaísta. E já estou crucificado nessa maravilhosa cruz." Público, 2003
"Não há definição exterior à nossa própria vida, ela não tem exterior. Nós somos a nossa vida, não temos outra definição, é esta. Olhando para trás, vejo-a com espanto - de que ela não possa recomeçar." Podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", Expresso, 2016
OS OUTROS
"O que mais me surpreende nos outros: a autenticidade. Cada pessoa é um mundo. Mesmo as pessoas que têm momentos de menos visibilidade e relevo, as pessoas são um mistério a que nunca daremos a volta." Podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", Expresso, 2016
PENSAMENTO
"O desejo de conhecimento é o que define o homem, desde Aristóteles. Somos aquele que deseja conhecer, deseja conhecer tudo, deseja conhecer sem fim. Os gregos foram os primeiros a falar dessa libido, desse tonel que nunca seria preenchido, que a sabedoria máxima era ter o conhecimento do que não se sabe." DNa, Diário de Notícias, 2003
"Pensar é um diálogo que temos connosco próprios." Expresso, 2017
CULTURA
"Vemos a nossa cultura como um museu e a do outro como uma coisa viva." Público, 2001
"A cultura serve para nos despir de toda a arrogância, particularmente essa que consiste em imaginar que, sendo cultivados, encontramos Deus. A cultura é um exercício de desestruturação, não de acumulação de coisas. É uma constante relativização do nosso desejo, legítimo, de estar em contacto com aquilo que é verdadeiro, belo, bom. É esse exercício de desconfiança, masoquista, de desencantamento. Só para que não caiamos no único pecado, que é verdadeiramente o pecado contra o espírito: o orgulho." DNa, Diário de Notícias, 2003
LÍNGUA
"A nossa identidade é-nos dada pela língua. O resto é identidade humana, normal, genérica. A identidade no sentido em que a tomamos, como qualquer coisa de particular, uma voz que é só nossa, que escutamos, é dada pela língua. Em segunda instância pela escrita, pela memória escrita. Uma cultura é uma memória, qualquer coisa que se está sempre a reciclar dentro do mesmo." DNa, Diário de Notícias, 2003
ARTES
"Somos pessoas racionais, animais racionais, se bem que a nossa animalidade seja discutível. Porém, os artistas não criam em função da razão ou do bom senso. Criam em função de um estímulo de qualquer coisa, que os ofusca e interroga. E, se tem uma tradução imagética, essa tradução é a primeira manifestação de arte propriamente dita. A essência da arte é a mimesis. Estamos cercados de objetos e tentamos perceber de que é que eles nos falam. Com exceção da música, as artes são imitativas e nasceram de uma cópia da própria natureza." Expresso, 2017
"A literatura não tem uma função. É um efeito do que somos de mais misterioso, de mais enigmático e ao mesmo tempo de mais ambicioso. Penso que, de todas as artes, a que revela o que a Humanidade é de mais profundo e absoluto é a música. A literatura é uma música um tom abaixo. Não se explica, não é da ordem do conceito como a filosofia. É natural que os homens reservem à literatura a sua maior atenção. A literatura é o nosso discurso fantasmático, absoluto. Todas as culturas se definem pela relação com o seu próprio imaginário. A encarnação dele é a literatura." Público, 2017
POESIA
"A poesia é o lugar onde existe essa consciência de que não há resposta, e de que não haver resposta é o aguilhão mais extremo, mais duro, mais incorruptível. Essa não-resposta constitui um Deus." Público, 2001
"A poesia, quando é, ela é o dizer absoluto." DNa, Diário de Notícias, 2003
"Somos poetas por definição porque somos falantes, criadores de ficção. Falar é ficcionar, essa é a nossa primeira relação com o mundo." Expresso, 2017
TEMPO
"Nós somos tempo. Compreender aquilo que nós somos é compreender o tempo que nós somos, aquilo que o tempo exterior, o tempo da história, o tempo da sociedade é em nós. Não se faz essa aprendizagem sem que ela seja uma metamorfose permanente daquilo que nós somos." "Entre Nós", Universidade Aberta, 2002
"A eternidade não é uma coisa, um sítio final para onde tudo conflui. Ela está implicada na sucessão de instantes." Público, 2014
"Somos hóspedes do instante, cada um de nós. Mas sempre com o sentimento de que cada esse instante não é diferente do que chamamos de eternidade, a eternidade como uma coleção de instantes. O tempo é feito desses instantes, de nada e de tudo ao mesmo tempo." Podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", Expresso, 2016
"Tenho uma relação com o tempo ontologicamente distraída. O tempo passa, acabou. Eu estou cansado de ter tanto tempo! Para mim talvez interessante seja que haja gerações mais novas que encontrem em mim alguma coisa de estimulante naquilo que escrevo. Isso é que é realmente a consolação das consolações." Público, 2003
RELIGIÃO
"Cristo não disse que vinha salvar a humanidade como um mágico, mas veio convencido de que a humanidade se salvaria através do amor que ele portava em si mesmo. Tenho na referência crística a referência fundamental da minha educação e da minha maneira de ser." DNa, Diário de Notícias, 2003
"Não é uma questão de dúvidas [sobre se Deus existe]. O problema é saber se nós existimos para Deus. O problema não é sobre a existência de Deus mas o contrário. A relação com Deus é impensável e sempre nos está pensando. Deus é o limite do pensável. A esse título Deus é absolutamente incontornável. Nós não temos nenhum conceito que seja um englobante da experiência humana em geral a não ser que ela seja só simples reiteração do existente." Público, 2003
"[É um homem crente?] Esta é uma questão que, uma vez posta, não pode ter uma resposta. Porque é "a" questão. Não concebo uma explicação do mundo que dispense a referência a uma ação transcendente. Nós figuramos como sendo de um ente que criou o mundo, e isso pode ser uma coisa infantilizante. Mas faz parte das nossas referências na tradição ocidental". Expresso, 2017
PORTUGAL
"Poucos povos serão como o nosso tão intimamente quixotescos, quer dizer, tão indistintamente Quixote e Sancho. Quando se sonharam sonhos maiores do que nós, mesmo a parte de Sancho que nos enraíza na realidade está sempre pronta a tomar os moinhos por gigantes. A nossa última aventura quixotesca tirou-nos a venda dos olhos, e a nossa imagem é hoje mais serena e mais harmoniosa que noutras épocas de desvairo o pôde ser. Mas não nos muda os sonhos. "Nós e a Europa ou as Duas Razões", 1988
"Os portugueses ainda vivem com um excesso de passado. Sobretudo com essa espécie de fixação histórica, que pode ser de tipo erótico ou outra, temos a nossa fixação sobre o nosso período áureo. Estamos eternamente no século XVI, estamos eternamente navegando para a Índia. Porque foi aquilo que fizemos enquanto povo de mais extraordinário, aí deixámos a nossa marca na história do mundo." "Entre Nós", Universidade Aberta, 2002
"A nossa História não é trágica, é muito protegida. Mesmo quando a Espanha esteve aqui, Portugal nunca perdeu a sua identidade real. Os espanhóis até pediam autorização para ir para a parte portuguesa! Portugal era a nação mais coerente do ponto de vista da Europa e tem uma espécie de identidade forjada a partir da sua própria fraqueza. Isso é que é verdadeiramente extraordinário - tivemos esta capacidade de fazer da fraqueza força." Público, 2003
"A história de Portugal é, de facto, singular. Os portugueses foram para todo o lado, mas nunca saíram, levaram a casinha com eles. Fizeram a mesma coisa na Europa. Salvo uma elite, que se preocupava com o que se passava lá fora - e imitava ou recusava -, a todos os outros foi a Europa que lhes chegou: veio por aí abaixo com os caminhos-de-ferro." Público, 2007
"Portugal não é uma ilha, mas vive como se fosse. Talvez por uma determinação de quase autodefesa. O que me admira mais não é a preocupação constante que temos em saber qual é a figura que fazemos no mundo enquanto portugueses. Todos os países terão à sua maneira essa preocupação. É o excesso dessa paixão. É preciso que não estejamos sempre a viver um Ronaldo coletivo, um "nós somos o melhor do mundo"." Público, 2017
"O narcisismo português, para mim, é um narcisismo inocente; ninguém pensa que vai morrer no espelho. Mas às vezes acontece." Público, 2017
EUROPA
"A Europa produziu um dos acontecimentos mais importantes do século passado, que foi precisamente a descolonização. Foram séculos e séculos que davam à Europa a superioridade no acesso às matérias-primas e que eram uma mais-valia para alimentar a economia. Isso acabou. A Europa agora está nua." Público, 2013
"Somos herdeiros do Império Romano. Tanto a Europa do Sul, mais antiga que a outra, a nórdica, mais tarde a dominante depois dos tempos de Shakespeare. A Europa está confrontada com o sentido da sua própria História mais no sentido da normalização da nossa relação - nos tempos modernos - connosco próprios." Rádio Renascença, 2016
"É quase escabroso ser europeu e estar preocupado com o destino europeu. Porque aquilo que acontece fora da Europa é muito mais preocupante e dramático." Expresso, 2017
FERNANDO PESSOA
"Fernando Pessoa deu a volta a toda essa nossa nostalgia e transformou-a em utopia. Hoje, a nível simbólico, vivemos nessa nova universalidade criada pela utopia de que Fernando Pessoa é representante. Não é a utopia de ninguém, não é a utopia de um povo particular, somos nós como representantes da humanidade inteira, aberta, responsabilizada, que vai construir o futuro sem saber qual será esse futuro." "Entre Nós", Universidade Aberta, 2002
"Cada geração reencontra outra maneira de reescrever o que Homero, Dante, Camões e outros já escreveram. Como Pessoa. Pessoa é um bisneto de Shakespeare. Ele é incompreensível sem as leituras de Shakespeare. Mesmo se não soubéssemos, bastaria consultar o seu volume de Shakespeare. Tudo está sublinhado. A Bíblia dele foi Shakespeare." Público, 2017
MORTE
"Estamos a falar de uns sujeitos que vão morrer. E que sabem que vão morrer, como os gladiadores do circo romano. O melhor é encarar isso da maneira mais filosófica possível. Quer dizer, sabendo que o que quer que pensemos sobre aquilo que nos espera, nada podemos. Está fora do nosso alcance. Não somos os sujeitos de nós próprios. Nascemos embarcados, como dizia Pascal. Depois, somos desembarcados." Público, 2014
"A morte é só isso, essa a ausência. Não pode ser dita, não pode ser escrita. Só pelos outros" RTP, 2015
"Com a morte da minha mulher entrei num outro tipo de espaço. O espaço verdadeiro do diálogo silencioso que eu tenho com alguém que já está num tempo fora deste tempo. É o absoluto silêncio, de que todos nós, num momento ou noutro, partilhamos. Sempre nos morreu alguém. Sempre nos morrerá alguém, sempre morrerá alguém a toda a gente. Nós só somos verdadeiramente quando esse alguém que contava para nós já não existe. Essa é o verdadeiro fim de tudo. Vivo esse silêncio na memória da recordação, na memória, na imagem, sempre com o sentimento da absoluta perdição e ausência." Podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", Expresso, 2016
"Ninguém pode dizer que a morte não assuste. Mas, curiosamente, com o tempo a morte vai ser aceite, não só como inevitável mas pode adquirir... mudar de signo, mudar de sinal, se essa morte é a morte do outro. Ninguém vive a sua morte. A nossa morte não é vivida. É sempre qualquer coisa que nos é imposta, em absoluto, de fora para dentro. A morte do outro, essa é a nossa morte." Podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", Expresso, 2016
"Ninguém vive a sua morte. A nossa morte não é vivida. É sempre qualquer coisa que nos é imposta, em absoluto, de fora para dentro. A morte do outro, essa é a nossa morte." Podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", Expresso, 2016
"O pouco ou muito que eu tinha de fazer neste mundo está feito ou não está feito." Podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", Expresso, 2016
"Nunca sabemos o que verdadeiramente nos move. Gostava de acabar os dias reconciliado com o mundo, e sobretudo saber que mundo foi este em que vivi e o que é a vida. Sei disso tanto agora que tenho quase cem anos como quando tinha dois anos." Público, 2017
Jornal de Notícias, in www.jn.pt/artes/eduardo-lourenco-em-40-frases-13095805.html