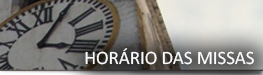Nota Pastoral da CEP sobre a Eutanásia
 Eutanásia: o que está em causa? Contributos para um diálogo sereno e humanizador
Eutanásia: o que está em causa? Contributos para um diálogo sereno e humanizador
1. As questões ligadas à legalização da eutanásia e do suicídio assistido estão em discussão na Assembleia da República e na sociedade. Como contributo para esse debate, que desejamos seja em diálogo sereno e humanizador, surge esta Nota Pastoral do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa sobre o que verdadeiramente está em causa[1].
2. Por eutanásia, deve entender-se «uma ação ou omissão que, por sua natureza e nas intenções, provoca a morte com o objetivo de eliminar o sofrimento»[2]. A ela se pode equiparar o suicídio assistido, isto é, o ato pelo qual não se causa diretamente a morte de outrem, mas se presta auxílio para que essa pessoa ponha termo à sua própria vida.
Distinta da eutanásia é a decisão de renunciar à chamada obstinação terapêutica[3], ou seja, «a certas intervenções médicas já inadequadas à situação real do doente, porque não proporcionadas aos resultados que se poderiam esperar ou ainda porque demasiado gravosas para ele e para a sua família»[4]. «A renúncia a meios extraordinários ou desproporcionados não equivale ao suicídio ou à eutanásia; exprime, antes, a aceitação da condição humana perante a morte»[5]. É, pois, bem diferente matar e aceitar a morte. Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica, constituem uma ingerência humana antinatural nesse momento-limite que é a morte: a primeira antecipa esse momento, a segunda prolonga-o de forma artificialmente inútil e penosa.
3. De forma sintética, podemos dizer que subjacente à legalização da eutanásia e do suicídio assistido está a pretensão de redefinir tomadas de consciência éticas e jurídicas ancestrais relativas ao respeito e à sacralidade da vida humana. Pretende-se que o mandamento de que nunca é lícito matar uma pessoa humana inocente (“Não matarás”) seja substituído por um outro, que só torna ilícito o ato de matar quando o visado quer viver. Consequentemente, intenta-se que a norma segundo a qual a vida humana é sempre merecedora de proteção, porque um bem em si mesma e porque dotada de dignidade em qualquer circunstância, seja substituída por um outro critério, segundo o qual a dignidade e valor da vida humana podem variar e podem perder-se. Ora, na nossa conceção, isto é inaceitável.
4. Para os crentes, a vida não é um objeto de que se possa dispor arbitrariamente, é um dom de Deus e uma missão a cumprir. E é no mistério da morte e ressurreição de Jesus que os cristãos encontram o sentido do sofrimento. Mas quando se discute a legislação de um Estado laico importa encontrar na razão, na lei natural e na tradição de uma sabedoria acumulada um fundamento para as opções a tomar. O valor intrínseco da vida humana em todas as suas fases e em todas as situações está profundamente enraizado na nossa cultura e tem, inegavelmente, a marca judaico-cristã. Mas não é difícil encontrar na razão universal uma sólida base para esse princípio. A Constituição Portuguesa reconhece-o ao afirmar categoricamente que «a vida humana é inviolável» (artigo 24º, nº 1).
5. A vida humana é o pressuposto de todos os direitos e de todos os bens terrenos. É também o pressuposto da autonomia e da dignidade. Por isso, não pode justificar-se a morte de uma pessoa com o consentimento desta. O homicídio não deixa de ser homicídio por ser consentido pela vítima. A inviolabilidade da vida humana não cessa com o consentimento do seu titular.
O direito à vida é indisponível, como o são outros direitos humanos fundamentais, expressão do valor objetivo da dignidade da pessoa humana. Também não podem justificar-se, mesmo com o consentimento da vítima, a escravatura, o trabalho em condições desumanas ou um atentado à saúde, por exemplo.
6. Por outro lado, nunca é absolutamente seguro que se respeita a vontade autêntica de uma pessoa que pede a eutanásia. Nunca pode haver a garantia absoluta de que o pedido de eutanásia é verdadeiramente livre, inequívoco e irreversível.
Muitas vezes, traduz um estado de espírito momentâneo, que pode ser superado, ou é fruto de estados depressivos passíveis de tratamento, ou será expressão de uma vontade de viver de outro modo (sem o sofrimento, a solidão ou a falta de amor experimentados), ou um grito de desespero de quem se sente abandonado e quer chamar a atenção dos outros. Mas não será a manifestação de uma autêntica vontade de morrer. É, pois, uma linguagem alternativa de quem pede socorro e proximidade afetiva. A dúvida há de subsistir sempre, sendo que a decisão de suprimir uma vida é a mais absolutamente irreversível de qualquer das decisões.
7. Em nome da autonomia, os que defendem a legalização da eutanásia e do suicídio assistido não chegam, por ora, ao ponto de pretender a legalização do homicídio a pedido e do auxílio ao suicídio em quaisquer circunstâncias. Pretendem apenas reconhecer a licitude da supressão da vida, quando consentida, em situações de sofrimento intolerável ou em fases terminais. Desta forma, atentam contra o princípio de que a vida humana tem sempre a mesma dignidade, em todas as suas fases e independentemente das condições externas que a rodeiam. A dignidade da vida humana deixa de ser uma qualidade intrínseca, passa a variar em grau e a depender de alguma dessas condições externas. Haveria, pois, situações em que a vida já não merece proteção (a proteção que merece na generalidade das situações), por perder dignidade.
8. Invocam os partidários da legalização da eutanásia e do suicídio assistido que, com essa legalização, se respeita, apenas, a vontade e as conceções sobre o sentido da vida e da morte, de quem solicita tais pedidos, sem tomar partido. Mas não é assim. O Estado e a ordem jurídica, ao autorizarem tal prática, estão a tomar partido, estão a confirmar que a vida permeada pelo sofrimento, ou em situações de total dependência dos outros, deixa de ter sentido e perde dignidade, pois só nessas situações seria lícito suprimi-la.
Quando um doente pede para morrer porque acha que a sua vida não tem sentido ou perdeu dignidade, ou porque lhe parece que é um peso para os outros, a resposta que os serviços de saúde, a sociedade e o Estado devem dar a esse pedido não é: «Sim, a tua vida não tem sentido, a tua vida perdeu dignidade, és um peso para os outros». Mas a resposta deve ser outra: «Não, a tua vida não perdeu sentido, não perdeu dignidade, tem valor até ao fim, tu não és peso para os outros, continuas a ter valor incomensurável para todos nós». Esta é a resposta de quem coloca todas as suas energias ao serviço dos doentes mais vulneráveis e sofredores e, por isso, mais carecidos de amor e cuidado; a primeira é a atitude simplista e anti-humana de quem não pretende implicar-se na questão do sentido da verdadeira «qualidade de vida» do próximo e embarca na solução fácil da eutanásia ou do suicídio assistido.
9. Não se elimina o sofrimento com a morte: com a morte elimina-se a vida da pessoa que sofre. O sofrimento pode ser eliminado ou debelado com os cuidados paliativos, não com a morte. E hoje, as técnicas analgésicas conseguem preservar de um sofrimento físico intolerável. Desta forma, pode afirmar-se que a eutanásia é uma forma fácil e ilusória de encarar o sofrimento, o qual só se enfrenta verdadeiramente através da medicina paliativa e do amor concreto para com quem sofre.
Como afirma Bento XVI, «a grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre»[6].
Para além do círculo afetivo dos seus familiares e amigos, a dignidade de quem sofre reclama o cuidado médico proporcionado, mesmo que os atos terapêuticos e os analgésicos possam, pelo efeito secundário inerente a muitos deles, contribuir para algum encurtamento da vida. Neste caso, não se trata de eutanásia, pois o objetivo não é dar a morte, mas preservar a dignidade humana e a «santidade de vida», minimizando o sofrimento e criando as condições para a «qualidade de vida» possível.
10. A mensagem que, através da legalização da eutanásia e do suicídio assistido, assim se veicula tem graves implicações sociais, que vão para além de cada situação individual. Esta mensagem não pode deixar de ter efeitos no modo como toda a sociedade passará a encarar a doença e o sofrimento.
Há o sério risco de que a morte passe a ser encarada como resposta a estas situações, já que a solução não passaria por um esforço solidário de combate à doença e ao sofrimento, mas pela supressão da vida da pessoa doente e sofredora, pretensamente diminuída na sua dignidade. E é mais fácil e mais barato. Mas não é humano! Neste novo contexto cultural, o amor e a solidariedade para com os doentes deixarão de ser tão encorajados, como já têm alertado associações de pessoas que sofrem das doenças em questão e que se sentem, obviamente, ofendidas quando veem que a morte é apresentada como “solução” para os seus problemas. E também é natural que haja doentes, de modo particular os mais pobres e débeis, que se sintam socialmente pressionados a requerer a eutanásia, porque se sentem “a mais” ou “um peso”.
É este, sem dúvida, um perigo agravado num contexto de envelhecimento da população e de restrições financeiras dos serviços de saúde que implícita ou explicitamente se podem questionar: para quê gastar tantos recursos com doentes terminais quando as suas vidas podem ser encurtadas?
11. Não podemos ignorar que, entre nós, uma grande parte dos doentes, especialmente os mais pobres e isolados, não tem acesso aos cuidados paliativos, que são a verdadeira resposta ao seu sofrimento.
A legalização da eutanásia e do suicídio assistido contribuirá para atenuar a consciência social da importância e urgência de alterar esta situação, porque poderá ser vista como uma alternativa mais fácil e económica.
12. Com esta Nota Pastoral, apelamos à consciência dos nossos legisladores.
Mas também sabemos que uma grande percentagem dos nossos concidadãos afirma aprovar a legalização da eutanásia e do suicídio assistido. Estamos convictos de que muitos o fazem sem a consciência clara do que está verdadeiramente em causa. Daí a importância de um vasto trabalho de esclarecimento para o qual queremos dar o nosso contributo.
No Ano Jubilar da Misericórdia, recordamos que esta nos leva a ajudar a viver até ao fim. Não a matar ou a ajudar a morrer.
Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa
Fátima, 8 de março de 2016
[1] Sugerimos também a leitura da Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, «Cuidar da Vida até à Morte». Contributo para a reflexão ética sobre o morrer, publicada a 12 de novembro de 2009, in Documentos Pastorais, vol. VII, Lisboa 2002, 123-131.
[2] João Paulo II, Carta encíclica Evangelium Vitae (25 de março de 1995), n. 65.
[3] Também designada por “encarniçamento médico”.
[4] João Paulo II, Carta encíclica Evangelium Vitae (25 de março de 1995), n. 65.
[5] Ibidem.
[6] Carta encíclica Spe Salvi (30 de novembro de 2007), n. 38.
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A EUTANÁSIA
ANEXO à Nota Pastoral do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, «Eutanásia: o que está em jogo? Contributos para um diálogo sereno e humanizador»
1. O que são a eutanásia e o suicídio assistido?
Etimologicamente, o termo “eutanásia” deriva do grego: eu, “boa”, e thanatos, “morte”.
Por eutanásia, deve entender-se «uma ação ou omissão que, por sua natureza e nas intenções, provoca a morte com o objetivo de eliminar o sofrimento»[1].
A ela se pode equiparar o suicídio assistido, quando não se causa diretamente a morte de outrem, mas se presta auxílio ao suicídio de outrem, com o objetivo de eliminar o sofrimento. Também se usa a expressão “suicídio medicamente assistido”, porque, de um modo geral, as legislações em vigor em vários Estados exigem que seja um médico a prestar esse auxílio, do mesmo modo que as leis que permitem a eutanásia exigem que seja um médico a praticá-la.
2. Será a eutanásia verdadeiramente uma “morte assistida”?
É usada, com frequência, a expressão “morte assistida” como conceito que inclui a eutanásia e o suicídio assistido.
Mas trata-se de uma expressão enganadora e que pode confundir.
A eutanásia e o suicídio assistido representam o encurtamento intencional de uma vida. Não é possível para ninguém — saudável ou com uma doença incurável — prever o momento da sua morte. A eutanásia reflete a pretensão de transformar a morte num “acontecimento programado e calculado”.
Prestar assistência a uma pessoa doente até ao termo natural da sua vida é uma expressão da solidariedade humana e da caridade cristã; nesse sentido, poderia falar-se em “morte assistida”. Mas tal não deve confundir-se com a eutanásia e o suicídio assistido. Nestas situações, trata-se de provocar deliberadamente a morte de outra pessoa (de “matar”) ou de prestar ajuda ao suicídio de outra pessoa (de ajudar a que outra pessoa “se mate”). A eutanásia não acaba com o sofrimento, acaba com uma vida.
Em vez de “morte assistida”, faria mais sentido falarmos em “vida assistida até ao seu termo natural”, garantindo ao doente terminal, através dos cuidados paliativos no aproximar do fim da vida, a assistência médica e humana necessária para o alívio do sofrimento. É, portanto, legítimo reclamar a humanização do fim da vida através de um conjunto de meios e atenções, oferecendo à pessoa os cuidados de que necessita e que dignificam não apenas quem os recebe, mas também quem os pratica num ato de verdadeira compaixão e generosidade.
3. O que é a obstinação terapêutica?
A obstinação terapêutica é também designada como exacerbação terapêutica, encarniçamento terapêutico ou excesso terapêutico.
Distinta da eutanásia é a decisão de renunciar à obstinação terapêutica, ou seja, «a certas intervenções médicas já inadequadas à situação real do doente, porque não proporcionadas aos resultados que se poderiam esperar ou ainda porque demasiado gravosas para ele e para a sua família»[2]. «A renúncia a meios extraordinários ou desproporcionados não equivale ao suicídio ou à eutanásia; exprime, antes, a aceitação da condição humana perante a morte»[3].
A obstinação terapêutica corresponde, assim, à aplicação de todos os métodos, diagnósticos e terapêuticos conhecidos, — mas que não visam proporcionar qualquer benefício ao doente —, com o objetivo de prolongar de forma artificial e inútil a sua vida, impedindo, portanto, através de uma atuação terapêutica desadequada e excessiva (desproporcionada), que a natureza siga o seu curso. Esta abordagem não é desejável; é, aliás, eticamente condenável, corresponde a má prática médica e conduz à chamada distanásia.
Na escolha da intervenção adequada (proporcionada), o médico deverá ponderar bem os meios, o grau de dificuldade e de risco, o custo e as possibilidades de aplicação, em confronto com o resultado que se pode esperar, atendendo ao estado do doente e às suas forças físicas e morais[4].
Nem sempre é fácil estabelecer uma linha clara entre a intervenção terapêutica adequada e a obstinação terapêutica. Cada caso deve ser avaliado na sua especificidade, de acordo com os meios disponíveis e com os avanços da medicina a cada momento. Seja como for, a medicina deve intervir sempre que haja uma esperança fundada de salvar a vida, devendo questionar-se medidas que não servem este propósito e se destinam apenas a prolongar a vida do doente. No entanto, importa sublinhar que a suspensão de algumas medidas terapêuticas que correspondam à obstinação terapêutica não implica a suspensão de outras, destinadas, por exemplo, a aliviar a dor do paciente.
É, pois, bem diferente matar e aceitar a morte. Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica, desrespeitam o momento natural da morte: a primeira antecipa esse momento, a segunda prolonga-o de forma artificialmente inútil e penosa.
4. O que é a distanásia?
Etimologicamente, significa o contrário de eutanásia.
A distanásia consiste em utilizar todos os meios possíveis — sem que exista uma esperança de cura — para prolongar de forma artificial a vida de um doente moribundo. Está associada à obstinação terapêutica. A distanásia é também considerada como a morte em más condições de apoio clínico e humano (“má morte”), associada à dor, sofrimento e a outros sintomas causadores de desconforto e incómodo significativo.
5. A eutanásia é sempre voluntária?
As legislações atualmente vigentes em vários Estados exigem que a eutanásia corresponda a um pedido livre e reiterado do doente, ao contrário do que se verificou no regime nacional-socialista alemão.
Mas as legislações holandesa e belga permitem a eutanásia de crianças com o consentimento dos pais. Dão, assim, relevo à vontade de crianças numa questão de relevância muito superior a outras, para as quais não é dado esse realce. Deve questionar-se se estamos, nestes casos, perante uma eutanásia voluntária.
Essas legislações também permitem a eutanásia de pessoas dementes quando a vontade destas se manifestou antes do evoluir da doença e quando ainda estavam em condições de o fazer em consciência. Mas falta, nestes casos, no momento em que a eutanásia é praticada, uma expressão de vontade atual; não sabemos, pois, se a pessoa em causa não poderia ter mudado de opinião entretanto, como muitas vezes sucede com o aproximar da morte.
Para além disso, e embora sem cobertura legal, mas também sem que essa prática tenha dado origem a qualquer acusação ou condenação judicial, na Holanda e na Bélgica, verifica-se a prática da eutanásia em crianças recém-nascidas com deficiências graves e em adultos com grave deficiência e incapazes de exprimir a sua vontade consciente. Não podemos falar, nestes casos, em eutanásia voluntária[5].
6. A questão da legalização da eutanásia e do suicídio assistido envolve opções religiosas?
Para os crentes, a vida não é um objeto de que se possa dispor arbitrariamente, é um dom de Deus e uma missão a cumprir. E é no mistério da morte e ressurreição de Jesus que os cristãos encontram o sentido do sofrimento. Mas quando se discute a legislação de um Estado laico importa encontrar na razão, na lei natural e na tradição de uma sabedoria acumulada um fundamento para as opções a tomar. Esse fundamento reside no valor da vida humana em todas as suas fases e em todas as situações. A Constituição Portuguesa reconhece-o ao afirmar categoricamente que «a vida humana é inviolável» (artigo 24º, nº 1).
7. Quais são os principais argumentos dos defensores da legalização da eutanásia e do suicídio assistido?
Por um lado, são invocados os direitos de liberdade e autonomia individuais: cada um deverá poder dispor da sua vida. O direito à vida será disponível e renunciável. Haverá um direito a morrer, e a morrer com dignidade, como há um direito a viver.
Por outro lado, a eutanásia é apresentada como um ato compassivo e de benevolência, que põe termo a um sofrimento inútil e sem sentido. A vida deixa de merecer proteção quando é marcada pelo sofrimento e perde, então, dignidade.
Podemos dizer que subjacente à legalização da eutanásia e do suicídio assistido está a pretensão de redefinir mandamentos relativos ao respeito e à sacralidade da vida humana. Pretende-se que o mandamento de que nunca é lícito matar uma pessoa humana inocente («Não matarás») seja substituído por um outro, que só torna ilícito o ato de matar quando o visado quer viver. Consequentemente, intenta-se que a norma segundo o qual a vida humana é sempre merecedora de proteção, porque um bem em si mesma e porque dotada de dignidade em qualquer circunstância, seja substituída por um outro critério, segundo o qual a dignidade e valor da vida humana podem variar e podem perder-se. Ora, na nossa conceção, isto é inaceitável.
Argumenta-se, também, que a legalização da eutanásia e do suicídio assistido seria uma exigência da liberdade de convicção e consciência e da liberdade religiosa, assim como da neutralidade ideológica do Estado. Haveria que respeitar a liberdade de quem considera que a sua vida não tem sentido, que o seu sofrimento não tem sentido, mesmo que outros, em iguais circunstâncias, considerem que a sua vida e o seu sofrimento têm sentido.
Invoca-se, ainda, a necessidade de regular uma situação que já existe como prática clandestina, evitando abusos e reduzindo os seus danos.
8. A legalização da eutanásia é uma exigência do respeito pela autonomia da pessoa?
Não é lógico contrapor o valor da vida humana ao valor da liberdade e da autonomia. É que a autonomia supõe a vida e sua dignidade. A vida é um bem indisponível, o pressuposto de todos os outros bens terrenos e de todos os direitos. Não pode invocar-se a autonomia contra a vida, pois só é livre quem vive. Não se alcança a liberdade da pessoa com a supressão da vida dessa pessoa. A eutanásia e o suicídio não representam um exercício de liberdade, mas a supressão da própria raiz da liberdade.
9. Todos os direitos são disponíveis?
O direito à vida é indisponível. Não pode justificar-se a morte de uma pessoa com o consentimento desta. O homicídio não deixa de ser homicídio por ser consentido pela vítima. A inviolabilidade da vida humana, consagrada no artigo 24º, nº 1, da Constituição Portuguesa, não cessa com o consentimento do seu titular.
O direito à vida é indisponível, como o são outros direitos humanos fundamentais, expressão do valor objetivo da dignidade da pessoa humana. Também não podem justificar-se, mesmo com o consentimento da vítima, a escravatura, o trabalho em condições desumanas ou um atentado à saúde, por exemplo. É irrenunciável o direito à segurança social. Até em questões de menor relevo, como na obrigatoriedade de uso de capacetes de proteção ou cinto de segurança, no trânsito ou em determinados trabalhos, se manifesta a indisponibilidade de alguns direitos.
10. Pode falar-se em “direito a morrer” e em “direito a morrer com dignidade”?
É absurdo falar em “direito à morte”, como seria absurdo falar em “direito à doença”, porque o direito tem sempre por objeto um bem (à vida, à saúde, à liberdade) na perspetiva da realização humana pessoal, e a morte não é nunca, em si mesma, um bem, pois todos os bens terrenos pressupõem a vida, e nunca a morte. O “direito à morte” seria ainda mais contraditório do que uma escravidão legitimada pelo consentimento da vítima.
“Direito a morrer com dignidade” terá sentido se com isso se pretende designar a morte em condições humanamente dignas, com a proximidade e o amor dos entes queridos e com cuidados paliativos, se necessários. Não certamente se com isso se designa alguma forma de morte provocada, como o são a eutanásia e o suicídio assistido. Não se compreende que uma morte seja digna por ser provocada, ou mais digna por ser provocada.
11. Pode dizer-se que é autêntica a manifestação de vontade de doentes terminais que pedem a eutanásia?
Pode dizer-se que nunca é absolutamente seguro que se respeita a vontade autêntica de uma pessoa que pede a eutanásia. Nunca pode haver a garantia absoluta de que o pedido de eutanásia é verdadeiramente livre, inequívoco e irreversível.
Muitas vezes, traduz uma ideia momentânea, frequentemente condicionada por um humor depressivo, e que, após o tratamento psiquiátrico adequado, pode ser alterada. Em fases terminais sucedem-se momentos de desespero alternando com outros de apego à vida. Porquê respeitar a vontade expressa num momento, e não noutro? Não poderia a pessoa vir a arrepender-se mais tarde, como se arrependem a maior parte dos que tentam o suicídio? É que a decisão de suprimir uma vida é a mais absolutamente irreversível de qualquer das decisões, dela nunca pode voltar-se atrás.
Que certeza pode haver de que o pedido de morte é bem interpretado, não será ambivalente, talvez mais expressão de uma vontade de viver de outro modo, sem o sofrimento, a solidão ou a falta de amor experimentados, do que de morrer? Ou de que esse pedido não é mais do que um grito de desespero de quem se sente abandonado e quer chamar a atenção dos outros? Ou de que não é consequência de estados depressivos passíveis de tratamento? Estando em jogo a vida ou a morte, a mínima dúvida a este respeito seria suficiente para optar pela vida (in dubio pro vita). E poderá estar alguma vez afastada essa mínima dúvida?
Num estudo realizado por Emanuel et al. (2000)[6] com 988 doentes terminais, cerca de 10,6% destes doentes referiram considerar pedir a eutanásia, ou o suicídio medicamente assistido, para si próprios. No entanto, cerca de 6 meses mais tarde, cerca de 50,7 % desses doentes mudaram de opinião, recusando a eutanásia. Além disso, os sintomas depressivos estavam associados aos pedidos de eutanásia.
12. O valor da vida tem relevo apenas individual?
A vida não pode ser concebida como um objeto de uso privado, como se estivesse de forma incondicional à disposição do seu proprietário para a usar ou a deitar fora de acordo com o seu estado de espírito ou determinada circunstância. Ninguém vive para si mesmo, como também ninguém morre para si próprio. A vida tem uma referência social e transpessoal, associada ao amor, à responsabilidade, à interdependência e ao bem comum.
E o valor da vida de cada pessoa para toda a sociedade não desaparece quando essa pessoa deixa de ser útil, deixa de produzir, perde quaisquer capacidades, ou pode vir a ser sentida como “peso” pelos outros.
13. Faz sentido falar em vidas que perdem dignidade, ou vidas “indignas de ser vividas”?
A vida humana é única, irrepetível e encerra sempre um mistério. A dignidade de uma pessoa não se mede pela sua popularidade, pela sua utilidade para a sociedade, nem diminui com o sofrimento ou a proximidade da morte. Se a vida humana não vale por si mesma, qualquer um pode sempre instrumentalizá-la em função de qualquer finalidade.
A dignidade da vida humana não depende de circunstâncias externas e nunca se perde. Não é menor, nem se perde, por estar marcada pela doença e pelo sofrimento.
14. Será o sofrimento físico e psíquico uma justificação para a eutanásia ou o suicídio assistido?
Importa lembrar que com a eutanásia e o suicídio assistido não se elimina, ou atenua, o sofrimento, elimina-se, sim, a vida da pessoa que sofre. A eutanásia e o suicídio assistido são uma forma fácil e ilusória de enfrentar o sofrimento, o qual só se enfrenta verdadeiramente através dos cuidados paliativos e do amor concreto para com quem sofre.
Há que combater, através dos cuidados paliativos, o sofrimento que pode ser evitado. Tais cuidados permitem eliminar o sofrimento físico intolerável.
Mas a dor e o sofrimento, físico e psíquico, fazem parte da natureza humana e acompanham o homem ao longo da sua vida. A alegria do nascimento de um filho é antecedida pelo sofrimento do parto. Na vida de qualquer pessoa, os momentos de alegria e bem-estar vão alternando com períodos mais ou menos prolongados de tristeza e sofrimento. É impossível julgar que se pode viver evitando a dor ou o sofrimento. E a morte nunca pode ser resposta. Se o fosse, estaria aberta a porta à legalização do homicídio a pedido e do auxílio ao suicídio em quaisquer circunstâncias, o que não advogam os defensores da legalização da eutanásia e do suicídio assistido. E deixariam de ter sentido as políticas públicas de prevenção do suicídio.
Há que evitar o sofrimento físico e psíquico destrutivo e intolerável, neles intervir ativamente e ajudar a encontrar um sentido para o sofrimento que não pode ser evitado, que faz parte da vida, em qualquer das suas fases, com ou sem doença. Os cristãos encontram esse sentido no sofrimento que Jesus Cristo experimentou até à morte na Cruz. Crentes e não crentes podem ver no sofrimento um desafio que nos faz crescer em humanidade (e não é humanamente benéfica a pretensão ilusória de fugir ao sofrimento inevitável).
Dizia Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que sobreviveu aos tormentos de um campo de concentração nazi, e que desenvolveu a logoterapia: «quando não podemos mudar certas circunstâncias da vida, somos desafiados a mudar-nos a nós próprios»[7].
Como afirma Bento XVI, «a grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre»[8].
Para além do círculo afetivo dos seus familiares e amigos, a dignidade de quem sofre reclama o cuidado médico proporcionado, mesmo que os atos terapêuticos e os analgésicos possam, pelo efeito secundário inerente a muitos deles, contribuir para algum encurtamento da vida. Neste caso, não se trata de eutanásia, pois o objetivo não é dar a morte, mas preservar a dignidade humana e a «santidade de vida», minimizando o sofrimento e criando as condições para a «qualidade de vida» possível.
15. A legalização da eutanásia e do suicídio assistido são uma exigência do respeito pela liberdade de convicção e consciência e da liberdade religiosa, assim como da neutralidade ideológica do Estado?
Para justificar a legalização da eutanásia e do suicídio assistido, há quem alegue que dessa forma o Estado não toma qualquer partido a respeito de conceções sobre o sentido da vida e da morte e respeita, apenas, a vontade e as conceções sobre o sentido da vida e da morte de quem solicita tais pedidos.
Não é assim. O Estado e a ordem jurídica, ao autorizarem tal prática, dando-lhes o seu apoio, estão a tomar partido, estão a confirmar que a vida permeada pelo sofrimento, ou em situações de total dependência dos outros, deixa de ter sentido e perde dignidade, pois só nessas situações seria lícito suprimi-la.
Quando um doente pede para morrer porque acha que a sua vida não tem sentido ou perdeu dignidade, ou porque lhe parece um peso para os outros, a resposta que os serviços de saúde, a sociedade e o Estado devem dar a esse pedido não é: «Sim, a tua vida não tem sentido, a tua vida perdeu dignidade, és um peso para os outros». Mas a resposta deve ser outra: «Não, a tua vida não perdeu sentido, não perdeu dignidade, tem valor até ao fim, tu não és peso para os outros, continuas a ter valor incomensurável para todos nós». Esta é a resposta de quem coloca todas as suas energias ao serviço dos doentes mais vulneráveis e sofredores e, por isso, mais carecidos de cuidados e amor; a primeira é a atitude simplista e anti-humana de quem não pretende implicar-se na questão do sentido da verdadeira «qualidade de vida» do próximo e embarca na solução fácil da eutanásia ou do suicídio assistido.
16. Mas não será preferível regular uma situação que já existe como prática clandestina, evitando abusos e reduzindo os seus danos?
Este tipo de argumentação foi já utilizado nas campanhas pela legalização do aborto. E há quem o invoque em favor da legalização da venda e consumo de droga, por exemplo. Há que salientar, desde logo, porém, que a eventual prática clandestina da eutanásia não tem comparação com a prática do aborto clandestino ou com o consumo e tráfico de droga.
Este tipo de raciocínio levaria a desistir de combater qualquer crime, pois se verifica sempre a sua prática clandestina.
E a experiência revela que, depois da legalização da eutanásia, continua a prática desta também fora do quadro legal, sendo que não há notícia de condenações judiciais por isso. A tendência será, mesmo, para intensificar essa prática clandestina, devido a um clima de maior permissividade perante qualquer tipo de eutanásia, seja ela legal ou não.
17. Pode considerar-se a legalização da eutanásia um progresso civilizacional?
A legalização da eutanásia e do suicídio assistido são habitualmente apresentadas junto da opinião pública como mais um sinal de progressismo, numa linha de promoção da liberdade individual. Os opositores surgem como antiquados.
Será importante recordar que a legalização da eutanásia e do suicídio assistido não são um progresso civilizacional, mas antes um retrocesso. Em diversas sociedades primitivas, bem como na Grécia e na Roma antigas, a eutanásia era praticada. Os idosos, os doentes incuráveis e os “cansados de viver” podiam suicidar-se ou submeter-se a práticas e ritos destinados a provocar uma “morte honrosa”. A morte de anciãos foi praticada em algumas tribos de Akaran (Índia), do Sian inferior, entre os cachibas e os tupis do Brasil. Na Europa entre os antigos wendi, povo eslavo, e até no século XX na Rússia na seita pseudo-religiosa dos “estranguladores”[9].
A valorização e a defesa da vida humana em todas as suas fases foram instituídas, em grande parte, pelo cristianismo. O verdadeiro progresso da humanidade foi no sentido de criar leis e normas que defendam a vida humana e impeçam o mais forte de exercer o seu poder sobre o mais fraco (a abolição do infanticídio, da escravatura, da tortura, da discriminação racial, etc.). Uma sociedade será tanto mais justa e fraterna quanto melhor tratar e cuidar dos seus membros mais vulneráveis.
18. Quais serão as consequências sociais da legalização da eutanásia?
A mensagem que, através da legalização da eutanásia e do suicídio assistido, assim se veicula tem graves implicações sociais, que vão para além de cada situação individual. Esta mensagem não pode deixar de ter efeitos no modo como toda a sociedade passará a encarar a doença e o sofrimento.
A quebra de um interdito fundamental (“não matar”) que estrutura, como sólido alicerce, a vida comunitária, não pode deixar de afetar a confiança no seio das famílias, entre gerações, e na comunidade em geral.
Há o sério risco de que a morte passe a ser encarada como resposta à doença e o sofrimento, já que a solução não passaria por um esforço solidário de combate a essas situações, mas pela supressão da vida da pessoa doente e sofredora, pretensamente diminuída na sua dignidade. E é mais fácil e mais barato. Mas não é humano! Neste novo contexto cultural, o amor e a solidariedade para com os doentes deixarão de ser tão encorajados, como já têm alertado associações de pessoas que sofrem das doenças em questão e que se sentem, obviamente, ofendidas quando vêm que a morte é apresentada como “solução” para os seus problemas. E também é natural que haja doentes, de modo particular os mais pobres e débeis, que se sintam socialmente pressionados a requerer a eutanásia, porque se sentem “a mais” ou “um peso”.
É este, sem dúvida, um perigo agravado num contexto de envelhecimento da população e de restrições financeiras dos serviços de saúde que implícita ou explicitamente se podem questionar: para quê gastar tantos recursos com doentes terminais quando as suas vidas pode ser encurtadas?
Não podemos ignorar que entre nós uma grande parte dos doentes, especialmente os mais pobres e isolados, não tem acesso aos cuidados paliativos, que são a verdadeira resposta ao seu sofrimento. A legalização da eutanásia e do suicídio assistido contribuirá para atenuar a consciência social da importância e urgência de alterar esta situação, porque poderá ser vista como uma alternativa mais fácil e económica.
19. Será possível restringir a legalização da eutanásia e do suicídio assistido a situações raras e excecionais?
A experiência dos Estados que legalizaram a eutanásia revela que não é possível restringir essa legalização a situações raras e excecionais; o seu campo de aplicação passa gradualmente da doença terminal à doença crónica e à deficiência, da doença física incurável à doença psíquica dificilmente curável, da eutanásia consentida pela própria vítima à eutanásia consentida por familiares de recém-nascidos, crianças e adultos com deficiência ou em estado de inconsciência.
É conhecida a imagem da rampa deslizante (slippery slope), muitas vezes evocada a este respeito. Depois de se iniciar uma descida vertiginosa, não se consegue evitar a queda no abismo; quando se introduz uma brecha num edifício, não se consegue evitar a sua derrocada.
Dois são os trajetos através dos quais se vai alargando o alcance da legalização da eutanásia e do suicídio assistido. Trata-se de um percurso lógico e, por isso, previsível.
Por um lado, quando se invoca a autonomia para justificar essa legalização, é lógico que estas práticas não se limitem a situações de doença em fase terminal. São, assim, mortas pessoas muito antes do final da sua vida e algumas sem estar doentes.
Por outro lado, quando se reconhece que há situações em que a vida “perde dignidade”, pela doença, sofrimento ou dependência, e, por isso, nessas situações a vida não merece a proteção que merece noutras, justificando-se a eutanásia e o suicídio assistido; então, porque nessas situações a vida “perde dignidade”, deixa de ser “digna de ser vivida”, pode prescindir-se de um pedido expresso no caso de pessoas incapazes de o formular: recém-nascidos, crianças, pessoas com deficiência ou com demência. E invoca-se o princípio da igualdade: porque haverão, então, de ficar privadas do pretenso “benefício” da eutanásia estas pessoas?
20. Tem aumentado no número de casos de eutanásia e suicídio assistido nos países em que estas práticas foram legalizadas?
Sim. Um trabalho de revisão realizado por Steck et al. (2013) revela que o número de mortes associadas à eutanásia e ao suicídio assistido aumentou nos países em que tais práticas foram legalizadas, como é o caso da Bélgica, Holanda, Suíça e o Estado de Oregon nos EUA[10].
Por exemplo, na Holanda, em 2015 a prevalência de mortes ocorridas através da eutanásia e do suicídio assistido foi de 4829 casos, o que corresponde a 3,4 % de todas as mortes[11]. Na Bélgica, em 2003 morreram através da eutanásia 235 pessoas. Em 2013 esse número aumentou para 1807, o que corresponde a um aumento de cerca de 789% em 10 anos[12]. Os dados disponíveis mostram que os números têm vindo sempre a aumentar, o que comprova que esta medida não se aplica apenas em casos pontuais.
21. Quais serão as consequências da legalização da eutanásia na medicina e na relação médico-doente?
A medicina assenta a sua prática no diagnóstico e no tratamento das doenças, no acompanhamento e alívio do sofrimento dos doentes, sempre com a finalidade de defesa da vida humana. A tradição refletida no juramento de Hipócrates obriga a que os médicos estejam do lado da vida, lutando contra a doença que nas suas formas mais graves conduzem à morte. A eutanásia opõe-se à medicina e acaba por ser a sua negação.
A relação de confiança médico-doente, que é a base da medicina, é, assim, destruída. É fácil perceber que aquele que deveria fazer tudo para nos salvar, não pode subitamente, ainda que a nosso pedido, agir no sentido de nos tirar a vida. A imagem do médico não pode passar de uma referência amiga e confiável à de um executante de uma sentença de morte.
Perante um médico que pratica a eutanásia, o doente pode recear que este decida suspender os tratamentos mesmo quando estes se justificam.
Além disso, a inclusão da eutanásia na prática médica pode levar a que o clínico, em situações semelhantes àquelas em que tenha sido praticada a eutanásia, tenda a repetir essa prática, ou a propô-la aos seus doentes.
Do ponto de vista médico, a eutanásia é executada através de um ato técnico (administração de drogas letais), mas não pode ser considerado um ato clínico, já que não se destina a aliviar ou a curar uma doença, mas sim a pôr termo à vida do paciente. Portanto, a eutanásia e o suicídio assistido não são tratamentos médicos.
A Associação Médica Americana (American Medical Association) tomou posição contra o envolvimento dos médicos na eutanásia e no suicídio assistido, referindo claramente que esse envolvimento contradiz o papel profissional do médico[13]. A Associação Médica Americana acrescenta que a avaliação e o tratamento por um profissional de saúde, com experiência nos aspetos psiquiátricos de doença terminal, pode, em muitos casos, aliviar o sofrimento que leva um paciente a desejar suicídio assistido.
22. A eutanásia está a ser praticada em doentes psiquiátricos? Que consequências daí podem advir?
Sim. Um estudo realizado na Holanda, entre 2011 e meados de 2014, revelou isso mesmo, sendo que a maioria dos casos de eutanásia devido a doenças psiquiátricas (N=66) correspondiam a mulheres (cerca de 70%), com várias doenças psiquiátricas crónicas, e socialmente isoladas. Cerca de 25% dos casos tinham idades compreendidas entre 30 e os 50 anos. A depressão e as perturbações de ansiedade foram as principais patologias psiquiátricas apresentadas pelos doentes (56%). Além disso, em 24% dos casos, os pareceres dos médicos psiquiatras não foram no sentido de justificar o pedido de eutanásia. Porém, nestes casos, a comissão legalmente prevista decide geralmente em favor da prática da eutanásia[14].
Na Suíça, num estudo realizado pelo Instituto de Medicina Legal de Zurique sobre os suicídios assistidos praticados por duas associações (Exit Deutsche Schweiz e Dignitas), entre 2001-2004, (N=421) revelou que nenhuma destas pessoas sofria de qualquer doença letal e que o “cansaço da vida” foi evocado em 25% dos suicídios (N= 105)[15] assistidos. De acordo com os resultados publicados neste estudo, a percentagem de suicídios assistidos cometidos em pessoas sem qualquer doença letal tem vindo a aumentar desde 1992. Facilmente se percebe que entre estas poderão estar pessoas que sofram de depressão e que se encontrem numa situação de grande fragilidade emocional.
A eutanásia praticada em doentes psiquiátricos é motivo de enorme preocupação na classe médica. Há o sério risco de os psiquiatras desistirem de tratar alguns doentes com depressão, com o efeito de desmoralização que isso poderá ter noutras pessoas com a mesma doença, e de ser desincentivada a melhoria dos cuidados psiquiátricos[16].
23. Quais são os direitos do doente em estado terminal?
Há um conjunto de direitos associados à dignidade humana que devem ser respeitados durante o período em que se avizinha o fim da vida. Neste caso, será preferível a expressão “fim de vida digno” em vez de “morte digna”.
Os direitos do fim da vida incluem:
• o direito aos cuidados paliativos;
• o direito a que seja respeitada a sua liberdade de consciência;
• o direito a ser informado com verdade sobre a sua situação clínica;
• o direito a decidir sobre as intervenções terapêuticas a que se irá sujeitar (consentimento terapêutico);
• o direito a não ser sujeito a obstinação terapêutica (tratamentos inúteis e desproporcionados, também designados como fúteis);
• o direito a estabelecer um diálogo franco, esclarecedor e sincero com os médicos, familiares e amigos;
• o direito a receber assistência espiritual e religiosa.
24. O que são os cuidados paliativos?
São cuidados de saúde prestados por uma equipa multidisciplinar especializada, que incluem a chamada medicina paliativa, que é hoje uma especialidade médica vocacionada para prestar cuidados clínicos aos doentes avançados e incuráveis e/ou muito graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde[17], os cuidados paliativos servem para melhorar a qualidade de vida dos doentes e das famílias que se confrontam com doenças ameaçadoras para a vida, mitigando a dor e outros sintomas e proporcionando apoio espiritual e psicológico, desde o momento do diagnóstico até ao final da vida.
Os cuidados paliativos não se destinam a curar a doença, nem tão-pouco a acelerar ou atrasar a morte (aceitam a inevitabilidade da morte), mas a assegurar um conjunto de medidas que visam cuidar do doente, aliviando o seu sofrimento físico e psíquico, garantindo-lhe conforto e a melhor qualidade de vida possível. Devem ser oferecidos muito antes da proximidade da morte do paciente, caso contrário poderão não garantir os objetivos de bem-estar que pretendem atingir. O apoio é dirigido quer ao doente, quer à família, procurando-se que os doentes possam viver tão ativamente quanto possível até à morte. Estes cuidados de saúde humanizados são prestados habitualmente por uma equipa multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, podendo também incluir voluntários.
Em doentes em fase terminal (últimos 3-6 meses de vida), é frequente existir dor física, sofrimento psíquico, bem como outros sintomas. As intervenções dos cuidados paliativos destinam-se a aliviar os sintomas que mais afetam o paciente. O sofrimento psíquico pode ser aliviado através de psicofármacos, mas também através de psicoterapia de apoio, do consolo moral e efetivo prestado pela equipa de cuidadores e também pela família, garantindo, assim, que nenhum doente em fim de vida (últimos 12 meses de vida) ou agónico (últimas horas ou dias) fica entregue a si próprio.
Estes cuidados devem ser prestados de forma continuada até ao momento da morte; e mesmo após a morte, com a prestação de apoio à família enlutada.
Os cuidados paliativos devem ser oferecidos atempadamente – e não apenas quando o doente está moribundo – de uma forma que respeite a sensibilidade deste e da sua família, e de acordo com as suas características culturais e religiosas.
Esta é uma área da medicina relativamente nova enquanto especialidade e necessita de ser alargada a mais zonas do país, com a criação de mais equipas especializadas.
25. O que é sedação paliativa?
Trata-se da utilização monitorizada de terapêutica destinada a induzir um estado de sedação, alterando, assim, o estado de consciência do doente, tendo em vista aliviar a carga de sofrimento causada por um ou mais sintomas que não cedem aos tratamentos habituais (ditos refratários), de uma forma que é eticamente aceitável para o doente, família e prestadores de cuidados de saúde. Utilizam-se fármacos sedativos (não morfina) e podem ocorrer diferentes níveis de sedação.
A sedação paliativa pode ser recomendada nalgumas situações e configurar a boa prática médica no âmbito dos cuidados paliativos[18]. Contudo, a sedação paliativa não deve nunca servir para abreviar a vida do doente. Além disso, não pode ser considerada um tratamento de primeira linha e deve ser praticada por uma equipa devidamente preparada. Assenta nos seguintes pontos: 1. Intenção clara (sedar o doente com a intenção de aliviar o sofrimento); 2. Processo (com o consentimento do doente e recurso a fármacos sedativos); 3. Resultado (o êxito da sedação é o alivio do sofrimento e não a morte).
26. Quais são as principais necessidades dos doentes em fim de vida?
As necessidades dos doentes em fim de vida e terminais assentam essencialmente no alívio do sofrimento físico e psíquico, prestado por uma equipa devidamente capacitada, no apoio espiritual e no suporte afetivo através da família e amigos.
A dor física é muito frequente, principalmente nas doenças neoplásicas. Uma correta terapêutica da dor torna-se necessária e importante para garantir a melhor qualidade de vida. No entanto, existem vários outros sintomas e todos merecem o devido tratamento.
O sofrimento psíquico não deve ser menosprezado. Estes doentes apresentam com frequência perturbações depressivas que obrigam a uma terapêutica antidepressiva e a um adequado apoio psicológico. É importante que o doente sinta que não está sozinho, sinta que a sua vida tem sentido e que tem o apoio de uma equipa a tratar dele, o que, juntamente com o carinho da família e dos amigos, proporciona um precioso auxilio para contrariar o sentimento de isolamento e insegurança que ocorre com frequência nestes casos.
As necessidades espirituais (comuns a crentes e não crentes) e religiosas devem ser justamente valorizadas. O apoio que permite dar sentido ao sofrimento deve ser garantido a estes doentes.
Fátima, 8 de março de 2016
[1] João Paulo II, Carta encíclica Evangelium Vitae (25 de março de 1995), n. 65.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração sobre a eutanásia, n. 2, 1980.
[5] Cf. Bregje D Onwuteaka-Philipsen et al., «Trends in end-of-life practices before and after the enactment of the euthanasia law in the Netherlands from 1990 to 2010: a repeated cross-sectional survey», www.thelancet.com, online July 11, 2012, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61034-41; Kenneth Chambaere er al., «Physician-assisted deaths under the euthanasia law in Belgium: a population-based survey», CMAJ, 2010, DOI:10.1503/cmaj.091876; Gerbert van Loenen, Do you call this a life?, Ross Latner, 2015.
[6] Emanuel EJ, Fairclough DL and Emanuel LL, «Attitudes and desires related to euthanasia and physician-assisted suicide among terminally ill patients and their caregivers», JAMA, 2000; 284: 2460–2468.
[7] In O Homem em busca de sentido.
[8] Carta encíclica Spe Salvi (30 de novembro de 2007), n. 38.
[9] Cf. Elio Sgreccia, Manual de bioética: Fundamentos e ética biomédica, Ed. Loyola, São Paulo, 1996. 601-605.
[10] Cf. Steck N, Egger M, Maessen M, Reisch T, Zwahlen M, «Euthanasia and assisted suicide in selected European countries and US states: systematic literature review». Med Care. 2013 Oct; 51(10): 938-44.
[11] Cf. Radbruch L, Leget C, Bahr P, Müller-Busch C, Ellershaw J, de Conno F, Vanden Berghe P; board members of the EAPC. Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care. Palliat Med. 2016 Feb;30(2):104-16.
[12] Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Zesde Verslag aan de Wetgevende Kamers (2012–2013), http://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/0135/54K0135001.pdf (acedido em 22-02-2016).
[13] Cf. https://www.ama-assn.org/ssl3/ecomm/PolicyFinderForm.pl?site=www.ama-assn.org&uri=/resources/html/Policy Finder/policyfiles/HnE/H-140.952.HTM (acedido em 19-02-2016).
[14] Cf. Kim SY, De Vries RG, Peteet JR, «Euthanasia and Assisted Suicide of Patients With Psychiatric Disorders in the Netherlands 2011 to 2014.», in JAMA Psychiatry. 2016 Feb 10. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2887. [Epub ahead of print].
[15] Cf. Fischer S, Huber CA, Imhof L et al., «Suicide assisted by two Swiss right-to-die organisations», in. J Med Ethics 2008;34:810–14.
[16] Cf. Appelbaum PS. «Physician-Assisted Death for Patients With Mental Disorders-Reasons for Concern». in JAMA Psychiatry. 2016 Feb 10. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.2890. [Epub ahead of print].
[17] Cf. http://www.who.int/cancer/palliative/es/ (acedido em 18-02-2016).
[18] Cf. Cherny NI and Radbruch L., «European Association for Palliative Care (EAPC) recommended framework for the use of sedation in palliative care». Palliat Med 2009; 23: 581–593.
Sinodalidade e a tomada de decisões na Igreja
 1. "Sínodo é o nome da Igreja"
1. "Sínodo é o nome da Igreja"
No seu comentário ao Salmo 149, procurando o sentido do final do versículo 1 («Que o seu louvor ressoe na Assembleia dos Santos»), S. João Crisóstomo interroga os seus ouvintes:
«Vedes como [o salmista], para formar o seu concerto religioso, antes do louvor da palavra, pede o louvor das obras e da vida? Não basta que a voz cante um hino de acção de graças, é necessário que a virtude das obras a acompanhe. "Que o seu louvor ressoe na assembleia dos santos". Há aqui um outro ensinamento: vemos nesta palavra que é necessário louvar a Deus dum modo perfeitamente concorde; porque a Igreja é uma reunião em que reina a mais completa harmonia»1.
Em grego, esta última afirmação ressoa deste modo: «Ἐκκλησία γὰρ συστήματος καὶ συνόδου ἐστὶν ὄνομα». Ou seja, traduzindo à letra: «A Igreja é uma assembleia, e sínodo é o seu nome».
De acordo com estudos relativamente recentes (2004)2, a palavra sínodo (σύνοδος) não terá como etimologia aquela habitualmente apresentada de «caminho feito em conjunto» (suvn + oJdovß), mas antes — com origem no dialecto ático do grego antigo — a etimologia suvn + oujdovß, em que oujdovß significa a soleira da casa. Assim, a palavra sínodo teria inicialmente o significado de «atravessar simultaneamente a soleira da casa, permanecer em conjunto, reunir»3.
1.1 O aparecimento da «sinodalidade»
Na Igreja, a realidade sinodal encontra a sua primeira expressão clara no célebre «Concílio de Jerusalém», relatado por S. Lucas em Act 15, e por S. Paulo em Gal 2,1-9. Deixemos de lado as sem dúvida importantes questões exegéticas que estas passagens da Escritura levantam, mas cuja abordagem não ajudaria para a nossa reflexão. Reconheçamos apenas que, apesar de não encontrarmos na Assembleia de Jerusalém o que hoje podemos chamar tecnicamente um «sínodo» (e seguindo a posição de Harald Wagner)4 , devemos, no entanto, reconhecer que ali se encontram vários «elementos sinodais»: a procura da verdade sob a invocação do Espírito Santo, a reunião dos Apóstolos e presbíteros que se encontram à frente das Igrejas, a auscultação das várias posições sobre uma determinada matéria, a tomada de uma resolução vinculante e a sua posterior comunicação às diferentes Igrejas. Podemos, pois, afirmar que aquela reunião de Jerusalém inaugurou na vida da Igreja um modo de tomar decisões a que podemos designar sob o termo genérico de sinodalidade.
Refira-se que a conexão do chamado «Concílio de Jerusalém» com os «sínodos episcopais», que constituem um fenómeno típico da Igreja antiga, foi realizada pela primeira vez por S. João Crisóstomo5, enquanto o primeiro testemunho do uso técnico da palavra sínodo remonta a Eusébio de Cesareia (Hist. Eccl. VII, 27,2)6. Por outro lado, o primeiro sínodo foi convocado no ano 155, em Roma, pelo Papa Aniceto7, para tratar da questão da data da Páscoa8. A este seguir-se-iam muitos outros, inúmeros mesmo, em muitas outras regiões, como forma de reconhecimento mútuo da fé católica e da resolução e regulamentação de diferentes questões disciplinares.
Não iremos aqui fazer referência aos Concílios Ecuménicos9 , ainda que, obviamente, sejam eles o expoente daquilo a que poderíamos chamar a sinodalidade na Igreja. Contudo, ao longo de vários séculos, mesmo antes do I Concílio Ecuménico de Niceia, em 325, e antes da liberdade proporcionada à Igreja por Constantino, o fenómeno sinodal e conciliar marca fortemente a vida da eclesial.
Notemos ainda que a sinodalidade não obsta a que, ao mesmo tempo, o ministério apostólico percorra um outro caminho que, embora diferente10, não deixa de convergir com aquele: a emergência e a afirmação da autoridade e da figura dos bispos como expressão da Tradição e da unidade da fé eclesial (vejam-se, por exemplo, as referências que Eusébio faz às figuras episcopais mais salientes na sua História Eclesiástica)11.
Mas é a sinodalidade que faz a diferença. Assim, S. Ireneu não hesitava em afirmar que, enquanto os fundadores de seitas davam origem a uma cacofonia, os bispos mostravam «uma mesma fé e um mesmo modo de organização» (Adv. Haer. V, 20,1). A este propósito, reconhecia J. Daniélou: «não podemos deixar de ser tocados pela diferença entre a acção dos fundadores de uma seita, que apresenta um carácter pessoal e é semelhante aos chefes de escola, e a acção dos bispos, que é essencialmente colectiva e procura mostrar a fé comum»12.
É pois natural que, ao lado e em convergência com a «práxis sinodal»13 desenvolvida no séc. II, nos apareçam em S. Inácio de Antioquia (c. 35 - c.107), S. Ireneu (c. 130-202)14 e S. Cipriano de Cartago (+ 258) — apenas para dar alguns dos exemplos mais conhecidos — os testemunhos do que viria a ser chamado o «episcopado monárquico»15; ou que, por volta de 215, a Traditio Apostolica de Hipólito já nos apresente a oração de ordenação dos Bispos (ainda hoje usada), com a descrição detalhada das suas funções no seio da comunidade.
Podemos dizer que, na Igreja antiga, os sínodos são reuniões dos bispos de uma determinada região com vista à procura da expressão da fé comum e da consequente elaboração de normas disciplinares, a que se seguiam a troca dos documentos finais, e o seu envio às outras Igrejas, em particular à de Roma16.
Constituem, portanto, uma realidade diferente dos sínodos diocesanos, ainda que possam ser colocados debaixo do mesmo conceito de sinodalidade.
1.2 Os Sínodos diocesanos
O primeiro sínodo diocesano de que temos notícia é o de Auxerre, por volta do ano de 585, que reuniu 7 abades, 34 presbíteros e 3 diáconos, à volta do Bispo Aunachario, tendo promulgado 45 cânones, a maioria deles referentes a matéria litúrgica. De então para cá, o fenómeno dos sínodos diocesanos não deixou nunca de estar presente na vida da Igreja, em particular na Idade Média.
«Eram — afirma José Pedro Paiva — assembleias que congregavam o clero de um arcebispado, ou bispado, convocado pelo respectivo prelado, com o intuito de se avaliar o estado da vida religiosa, a situação clerical e de se proporem medidas de actuação nesses domínios. Eram ainda, em função de juntarem a totalidade do clero beneficiado — algum dele habitualmente residente em regiões periféricas das sedes diocesanas — um meio de transmissão de informações e normas oriundas dos diversos níveis de poder da Igreja.»17
Segundo o mesmo autor, estes sínodos aparecem consagrados no chamado Decreto de Graciano (1140-1150), são objecto de decisão do IV Concílio de Latrão (1215)18 e, em 1433, do Concílio de Basileia (XV sessão, 26 de novembro), que lhes dedica um decreto19.
Refletindo as tendências conciliaristas que marcavam o ambiente em que foi realizado o Concílio, o Decreto de Basileia impunha a celebração regular de Concílios ecuménicos, provinciais e, anualmente, de sínodos diocesanos, numa espécie de hierarquia e de sequência lógica. Contudo, não deixa de ser interessante verificar o facto de o Concílio reconhecer a antiguidade do costume sinodal e de indicar com algum detalhe o programa das duas ou três jornadas que deveriam durar: Missa, pregação do Bispo, leitura dos estatutos provinciais e sinodais, e resolução dos problemas disciplinares ou doutrinais, particularmente dos que originavam escândalo, e que os delegados episcopais tivessem encontrado ao longo do ano ao visitar a diocese. O sínodo tinha a obrigação providenciar à sua resolução, mesmo quando ocasionados pelo próprio Bispo.
Sem qualquer intuito conciliarista, o Concílio de Trento, na sua XXIV sessão, em 11 de novembro de 1563 (Decretum De reformatione, can. II), não deixou de reconfirmar a práxis da convocação dos concílios provinciais e da convocação anual do sínodo diocesano, fazendo suas as normas do Concílio de Basileia a este respeito.
E, de facto, em Portugal encontramos testemunhos da celebração de vários sínodos diocesanos, sem no entanto atingirmos a frequência anual indicada. O primeiro deles, bem anterior ao Concílio de Basileia, foi celebrado em Lisboa, em 1191, e o último data de 1761, celebrado na então diocese de Miranda20. Mas não podemos esquecer a convocação mais recente de outros sínodos diocesanos nas colónias portuguesas, e a reedição das normas sinodais em várias dioceses do continente.
Podemos, assim, dizer que, revestindo-se embora de formas muito diversas, os sínodos são uma realidade na Igreja desde o seu início — na Igreja universal e, de igual modo, nas Igrejas diocesanas, de que são exemplo várias dioceses portuguesas —, e que não existiu, de facto, nenhum período da história da Igreja em que eles não marcassem a sua importância. São uma expressão da vida eclesial, que vai assumindo, ao longo dos séculos, facetas diferentes.
2. O Sínodo diocesano contemporâneo
Estes diversos modos com que a sinodalidade foi vivida na Igreja ao longo dos séculos encontraram um novo impulso no Concílio Vaticano II. Assim, este Concílio não deixou de pedir (ou mesmo de tornar obrigatórios) a criação de diferentes órgãos de «conselho», que marcam, desde então, a vida das nossas dioceses, paróquias e movimentos. É o caso dos Conselhos Presbiterais (PO 7) e dos conselhos pastorais (CD 27) e mesmo de outros, prevendo o Concílio que, nalguns, participassem também leigos. Recordemos um desses passos do Vaticano II:
«Quando for possível, haja em todas as dioceses conselhos que ajudem a obra apostólica da Igreja, quer no campo da evangelização e santificação, quer no campo caritativo, social e outros, onde os clérigos e os religiosos colaborem dum modo conveniente com os leigos. Tais órgãos poderão servir para coordenar as diversas associações de leigos e suas iniciativas apostólicas, respeitando a índole e autonomia própria de cada uma. Se for possível, haja também organismos semelhantes no âmbito paroquial, interparoquial, interdiocesano, bem como no plano nacional ou internacional.» (AA 26).
A partir desta determinação, a sinodalidade passará a configurar de um modo mais incisivo a ação pastoral da Igreja do pós-concílio, não por uma mera «moda» cultural, mas porque ela traduz o modo de ser da Igreja, o seu mistério.
O Concílio faz também referência ao Sínodo diocesano (Decreto Christus Dominus, 36). A sua celebração foi depois delineada mais extensamente pelo Código de Direito Canónico de 1983 (can. 460-468), e concretizada na Instrução sobre os Sínodos diocesanos, emanada pelas Congregações para os Bispos e para a Evangelização dos Povos, em 1997, e no Directório para o ministério pastoral dos Bispos, de 2004 (nn. 166-174).
Se, por um lado, todos estes documentos sublinham a iniciativa, o papel e decisão última do Bispo diocesano ao longo do processo sinodal — e, portanto, configuram o Sínodo diocesano como «acto de governo episcopal» — por outro lado não deixam igualmente de realçar que a sua celebração constitui o «vértice das estruturas de participação da Diocese», e um singular «evento de comunhão» (DMPB, 166).
Olhemos, pois, primeiramente, como devemos entender o Sínodo diocesano enquanto expressão da comunhão eclesial e, depois, o modo muito próprio de, nas diferentes estruturas eclesiais de participação se expressar esta comunhão.
2.1 O Sínodo é um acontecimento de comunhão
A noção de comunhão tomada como conceito da eclesiologia começou a ganhar a sua «popularidade teológica» a partir do Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985, convocado por S. João Paulo II para realizar o balanço dos 20 anos de caminho eclesial desde o encerramento do Concílio. A noção de comunhão domina o documento conclusivo, redigido pelo Card. Danneels e pelo futuro Card. W. Kasper, como conceito a partir do qual reler e interpretar os diversos documentos do Concílio Vaticano II. Vejam-se, por exemplo, alguns passos desse documento:
«A Igreja torna-se mais credível se, falando menos de si mesma, prega mais e mais a Cristo crucificado (cf. 1Cor 2,2) e dá testemunho dele com a sua vida. Deste modo, a Igreja é como um sacramento, ou seja, sinal e instrumento da comunhão com Deus e também da comunhão e reconciliação do homens entre si. O anúncio sobre a Igreja, como o descreve o Concílio Vaticano II, é trinitário e cristocêntrico.» (Relatio finalis, I.1).
E mais adiante:
«A eclesiologia de comunhão é uma ideia central fundamental nos documentos do Concílio. Koinonia / comunhão, fundadas na Sagrada Escritura, são tidas em grande honra pela Igreja antiga e pelas Igrejas orientais até aos nossos dias. Desde o Concílio Vaticano II fez-se muito para que se entendesse mais claramente a Igreja como comunhão e se levasse esta ideia mais concretamente para a vida. Que significa a complexa palavra "comunhão"? Fundamentalmente trata-se da comunhão com Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo. Esta comunhão dá-se na Palavra de Deus e nos sacramentos. O batismo é a porta e o fundamento da comunhão da Igreja; a Eucaristia é a fonte e o cume de toda a vida cristã (cf. LG 11). A comunhão do corpo eucarístico de Cristo significa e faz, ou seja, edita a íntima comunhão de todos os fiéis no Corpo de Cristo que é a Igreja. Por isso, a eclesiologia de comunhão não se pode reduzir a meras questões organizativas ou a questões que digam respeito a meros poderes. A eclesiologia de comunhão é o fundamento para a ordem na Igreja e em primeiro lugar para a recta relação entre unidade e pluriformidade na Igreja.» (Relatio finalis, II, C,1).
Tratava-se de não ignorar duas realidades centrais no Concílio: a existência do I capítulo da Constituição Lumen gentium, intitulado «O mistério da Igreja», que faz apelo à dimensão trinitária e cristológica da Igreja, realidade anterior e chave hermenêutica dos outros capítulos da Constituição, e portanto também do capítulo II sobre o «Povo de Deus»; e a afirmação primeira e central da Constituição Dei Verbum (DV 1):
O sagrado Concilio, ouvindo religiosamente a Palavra de Deus, proclamando-a com confiança, faz suas as palavras de S. João: "anunciamo-vos a vida eterna, que estava junto do Pai e nos apareceu: anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão connosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo" (1Jo 1, 2-3).
Mais: tratava-se, em 1985, de impedir que a Igreja, tal como o Concílio Vaticano II a apresentou a si mesma e ao mundo, fosse tomada (sob a clara influência marxista — ou, pelo menos, por influência dos modelos culturais dominantes) como tendo no seu centro uma contraposição entre classes (a hierarquia e os religiosos frente ao «povo soberano» que reclamaria uma espécie de «democracia popular») e, deste modo, como uma Igreja que existe a partir de si própria — se quisermos, usando as palavras do Papa Francisco logo no primeiro dia do seu pontificado, uma «ONG religiosa».
Ora a Igreja não existe a partir de si nem para si mesma. A Igreja é o «instrumento de Deus para reunir os homens à Sua volta, para preparar o momento em que "Deus será tudo em todos" (1Cor 15,28)»21. Caso contrário, poderíamos perfeitamente passar sem ela (talvez porque não raras vezes a Igreja é apresentada como uma organização humana, em muitos crentes surge o que poderíamos chamar a «dispensabilidade» da Igreja!).
O centro à volta do qual se constrói a comunhão é a pessoa de Jesus, e a comunhão é o nome dado à Sua relação com o Pai no Espírito Santo. É desta relação que Ele faz participantes os Apóstolos, e por meio destes e da vida comunicada pelo Espírito Santo, todos os cristãos. Por isso, S. João não hesita em dizer: para «que vivais em comunhão connosco e a nossa comunhão seja com o Pai».
A comunhão dos homens entre si nasce da comunhão de Jesus com o Pai, e a ela temos acesso através daquele que realiza a comunhão de Deus com os homens: Jesus22, cuja vida nova de Ressuscitado nos é dada a participar por meio do Espírito Santo recebido no Baptismo.
A noção de comunhão encontra uma realidade sacramental que a torna visível e eficaz, e ao mesmo tempo «espiritual, transcendente e escatológica»23: a Eucaristia. É Cristo quem edifica a Igreja e por ela dá a Sua vida num permanente e eterno serviço sacerdotal.
Assim, para o estudo da noção de comunhão expressa na sinodalidade eclesial, não podemos passar por cima de Gal 2,9. No contexto da referência à Assembleia de Jerusalém, S. Paulo diz:
«Quanto àqueles que eram considerados como autoridades – o que eles foram outrora de nada me interessa, já que Deus não faz acepção de pessoas – a mim, com efeito, nada mais me impuseram. Antes pelo contrário: tendo visto que me tinha sido confiada a evangelização dos incircuncisos, como a Pedro a dos circuncisos – pois aquele que operou em Pedro para o apostolado dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios - e tendo reconhecido a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão, para irmos, nós aos gentios e eles aos circuncisos.» (Gal 2,6-9).
Podemos surpreender aqui a noção paulina de comunhão eclesial: Paulo reconhece a autoridade dos que eram «as colunas» da Igreja, e o seu gesto de estender a mão direita em sinal de comunhão é olhado pelo Apóstolo como expressão válida e vinculante24. Paulo fez sempre referência à origem da sua condição de Apóstolo na «revelação» do Ressuscitado no caminho de Damasco, e mesmo agora afirma que a sua subida a Jerusalém teve origem numa «revelação» (Gal 2,2). Contudo acrescenta: «Expus-lhes o Evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão» (Gal 2,2). Paulo não tinha dúvidas acerca da verdade do Evangelho por ele anunciado; mas não tinha igualmente dúvidas acerca da necessidade de manter intacto o vínculo eclesial e de viver plenamente nele — e a questão da circuncisão ameaçava tornar-se num ponto de ruptura.
Que a noção de comunhão não se reduza apenas às realidades espirituais e doutrinais, mas consista igualmente numa realidade social, isso mesmo é demonstrado pelo pedido feito a Paulo: «Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção» (Gal 2,10).
Não espanta, assim, que o teólogo ortodoxo B. Bobrinskoy tenha definido a conciliaridade deste modo: «a conciliaridade manifesta-se como coextensiva ao mistério, pelo facto de ser este que faz da Igreja uma Igreja em Concílio permanente, à imagem do Conselho eterno da Trindade santa»25. Notemos que a expressão «Concílio permanente», embora seja típica de um teólogo da Tradição Ortodoxa, se mostra aqui com um significado muito diferente daquele outro, surgido em algumas mentes a seguir ao Vaticano II, da instituição de um estado permanente de Concílio que relativizasse a figura do Papa, e constituísse na Igreja uma espécie de «Parlamento democrático».
À primeira vista temos pois (tal como já sucedeu na breve análise que fizemos sobre a dimensão histórica dos sínodos), uma vez mais, duas realidades aparentemente contraditórias: por um lado as figuras apostólicas e o seu ministério apostólico /episcopal; e, por outro, o célebre «pareceu bem ao Espírito Santo e a nós» (Act 15,28: ἔδοξεν γὰρ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ καὶ ἡμῖν).
2.2 As decisões na Igreja
a) O «voto democrático»
A célebre «autonomia das realidades terrestres» consagrada pela Constituição Gaudium et spes26 não pode deixar de nos conduzir a reconhecer que, precisamente, nas «realidades terrestres» as decisões se devem tomar de acordo com a referida autonomia. O mesmo é dizer, por exemplo, que, em matéria económica, as decisões, mesmo no seio das comunidades eclesiais, hão-de ser tomadas de acordo com a prudência e a sabedoria requeridas pelo saber económico; e que noutras matérias hão-de ser tomadas democraticamente, segundo o voto da maioria, e assim sucessivamente27.
Mas como tomá-las em matérias doutrinais ou pastorais, como são aquelas habitualmente colocadas à consideração dos diferentes conselhos ou órgãos de consulta e, em caso mais solene, nos Sínodos ou mesmo nos Concílios? Que poderá significar o célebre «ao Espírito Santo e a nós»?
Em 1985, nos Estados Unidos, foi fundado por Robert Funk o célebre Jesus Seminar que reúne duas vezes por ano uma série de peritos bíblicos, sobretudo evangélicos, e em que, após algum tempo de estudo e debates, os participantes votam «democraticamente» se sim ou não determinada afirmação dos evangelhos deve ou não ser atribuída a Jesus. Podemos dizer que este é, talvez, o caso mais chocante da falta de adequação da votação democrática ao seu objecto, e um abuso do próprio sujeito. Os escritos evangélicos e o seu valor não estão submetidos ao «voto democrático», qualquer que seja a forma de que ele se revista, nem os exegetas (por muito peritos que sejam) são os «sujeitos» dos evangelhos, para que possam decidir sobre eles e o seu valor.
Mesmo colocando de parte a consideração de formas democráticas que mais se aproximam da anarquia, e tomando apenas o modelo parlamentar ocidental, importa, também aqui, sublinhar algumas diferenças em relação à Igreja, não sem antes deixarmos de recordar que muitas instituições eclesiais foram efectivamente o berço da própria norma democrática, mesmo da representativa (veja-se, por exemplo, as eleições de superiores em muitas congregações religiosas).
Em primeiro lugar notemos que, enquanto um Estado tem por objectivo a administração da «coisa comum» em nome do verdadeiro soberano que é o povo, na Igreja ninguém possui por si mesmo qualquer autoridade, e que a finalidade da Igreja não é, absolutamente, a administração dos próprios bens, da sua partilha ou da tutela de direitos individuais dos seus membros: a Igreja vem de Deus e tem por meta a condução dos homens a Deus; o seu objecto de interesse é o Evangelho, e é ao serviço deste que se encontra o próprio ministério ordenado.
Não podemos, no entanto, esquecer a noção de sacerdócio comum dos fiéis reafirmada pelo Concílio Vaticano II, e, assim, a participação de todos os baptizados na missão profética, sacerdotal e real de Cristo, particularmente o sentido da fé cujo consenso universal em matéria de fé e costumes é infalível, como afirma LG 12.
Também não podemos esquecer o axioma do direito romano, assumido depois pelo Código de Direito Canónico (can. 119 § 3): «o que respeita a todos individualmente, por todos deve ser aprovado». A este respeito, Y. Congar mostrou, já em 195828, que o axioma consistia antes na afirmação do dever de participação de todos no seio das diversas estruturas.
Quanto ao ministério ordenado é claro que ele não é constituído a partir de uma delegação do povo de Deus, como acontece nas realidades políticas29.
b) Como entender o conselho ou consenso?
Como poderemos então entender a realidade do «Conselho» no seio da Igreja? A este propósito, o então Cardeal J. Ratzinger, a partir do pensamento de S. Cipriano de Cartago, resumiu assim o que poderíamos considerar o modo de proceder em Igreja:
«Nihil sine espicopo (nada sem o Bispo); a exigência da participação pública e da unidade da Igreja local sob o Bispo atinge nele, na luta contra comunidades de eleitores e contra a formação de grupos, a sua forma mais nítida e mais clara. Mas o mesmo Cipriano declara, de modo não menos claro, perante o seu presbitério: nihil sine concilio vestro (nada sem o vosso conselho), e afirma dum modo igualmente claro à sua comunidade: nihil sine consenso plebes (nada sem o consenso do povo). Nesta tríplice forma de cooperação na construção da comunidade reside o modelo clássico da "democracia" eclesial, que não nasce de uma transposição insensata de modelos estranhos à Igreja, mas da íntima estrutura do ordenamento eclesial e que, por isso, é conforme à exigência específica da sua essência.»30
O então Cardeal J. Ratzinger fazia, concretamente, referência a duas Cartas de S. Cipriano. Na primeira, a Carta 66, escrita a Florêncio Pupiano que tinha acusado de vários crimes o Bispo de Cartago e fomentado a divisão da comunidade, S. Cipriano afirma, referindo-se a Jo 6,67-69 e à profissão de fé que S. Pedro realiza em nome de todos:
«Foi Pedro quem falou naquela ocasião; sobre ele foi edificada a Igreja. Em nome da Igreja demonstra que, mesmo que a massa de rebeldes e orgulhosos se afaste não aceitando as decisões da Igreja, esta, no entanto, não se separará de Cristo. Para Cristo a Igreja está formada pelo povo unido ao seu Bispo e o rebanho que permanece fiel ao seu pastor. Deves saber, portanto, que o Bispo se encontra na Igreja e a Igreja no Bispo; se alguém não está com o Bispo, não se encontra na Igreja.» (Carta 66, VIII, 3).
Na outra carta, a Carta 14, S. Cipriano expressa a sua dor pelos sacerdotes e leigos que caíram na apostasia devido à perseguição, e pede que se tenha em atenção o cuidado pelos confessores pelos pobres. Estamos na primavera do ano 250. No final, afirma o Bispo de Cartago:
«Em relação àquilo que me escreveram os meus irmãos no sacerdócio Donato, Fortunato, Novato e Gordio, não posso responder sozinho, já que desde o começo do meu episcopado decidi não tomar nenhuma resolução por minha própria conta, sem o vosso conselho [nihil sine concilio vestro] e sem o consenso do povo [et sine consenso plebis]. Mas quando, com a graça de Deus, puder estar convosco, então trataremos em comum sobre o que se fez e o que se há-de fazer, tal como exige o respeito que nos devemos.» (Carta XIV,4)
Podemos pois resumir assim o modo de proceder de S. Cipriano: nihil sine episcopo; nihil sine consilio vestro; nihil sine consensu plebis.
Já mais próximo de nós, quando, em 1854, o Beato Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, na Bula Ineffabilis Deus, usou uma fórmula que creio poder também traduzir eficazmente o que significa este «conselho» através da palavra conspiratio. Afirmava o Santo Padre (n. 40):
«Assim, firmemente nos persuadimos, no Senhor, de ser chegado o tempo oportuno para definir a Imaculada Conceição da Virgem Mãe de Deus, a qual a Sagrada Escritura, a veneranda tradição, o constante sentimento da Igreja, o singular consenso [conspiratio] dos bispos católicos e dos fiéis, e os actos memoráveis e as constituições dos Nossos Predecessores, admiravelmente ilustram e explicam.»31
Em 1859, esta mesma noção de conspiratio foi usada pelo Beato J. H. Newman num artigo [«On Consulting the Faithful in Matters of Docrtine»] publicado na revista Rambler. Newman estava firmemente convencido, desde as suas investigações sobre a crise ariana do séc. IV, que, neste caso, a integridade do dogma tinha sido mantida não tanto graças à firmeza da Santa Sé, dos Concílios ou dos Bispos, mas devido ao consensus fidelium32. A esta convicção tinha-se juntado a conversa tida em Roma, em 1847, com Giovanni Perrone, cujo tratado sobre a Imaculada Conceição seria, depois, uma das fontes mais usadas pelo Papa Pio IX na redacção da Bula de proclamação do Dogma, e em que este teólogo se tinha mostrado convencido de que o consensus fidelium poderia funcionar como uma força que compensava a eventual fraqueza de outros testemunhos em matéria doutrinal.
No seu artigo e com estas bases, Newman deu um passo em frente e defendeu que o consenso dos fiéis poderia ser olhado como a) um testemunho factual do dogma apostólico; b) uma espécie de instinto presente na profundidade do corpo místico de Cristo; c) um fruto da condução do Espírito Santo; d) uma resposta à oração33.
E acrescentou: «conspiratio: os dois, a Igreja que ensina e a Igreja ensinada são colocadas em conjunto como um duplo testemunho, cada uma ilustrando a outra e nunca dividindo»34. Quando falta o consenso, é o todo que é prejudicado. O consenso traz consigo «algo» que falta quando os pastores ficam sós. Trata-se de um duplo testemunho da fé, que se ilumina mutuamente e persegue um objectivo comum. E Newman afirma que bispos e fiéis «constituem uma porção da Igreja, com funções próprias, e que nenhuma destas pode ser salutarmente negligenciada. Mesmo que os leigos não sejam mais que o eco do clero em questões de fé, mesmo assim, existe algo na pastorum et fidelium conspiratio que não se encontra quando se considera apenas os pastores»35 .
Se quisermos, em relação concretamente ao Sínodo diocesano, podemos assumir o que a Instrução da Congregação dos Bispos e da Congregação para a Evangelização dos Povos afirma:
«Os sinodais são chamados a "prestar ajuda ao Bispo diocesano", formulando o seu parecer ou "voto" acerca das questões por ele propostas; tal voto é chamado "consultivo" para significar que o Bispo é livre para acolher ou não as opiniões manifestadas pelos sinodais. Isto, contudo, não é o mesmo que dar-lhes pouca importância, como se se tratasse de mera consulta "externa" e de opiniões expressas por quem não tem nenhuma responsabilidade pelo êxito final do sínodo: com as suas experiências e os seus conselhos, os sinodais colaboram ativamente na elaboração das declarações e dos decretos, que serão, justamente, chamados "sinodais", e nos quais o governo episcopal da diocese deve inspirar-se para o futuro.» (Instrução, I,2).
Esta percepção daquilo em que consiste o «conselho» ou o «voto consultivo» em relação ao Sínodo diocesano devemos entendê-la também, por analogia, aos demais conselhos, sejam paroquiais ou diocesanos, e mesmo aqueles que existem no seio da Igreja universal.
O voto consultivo (assumindo a premissa de que é emitido de modo responsável, respeitoso e sério) «é parte integrante do processo a partir do qual surge o juízo vinculante da fé do bispo. Por esta razão, o voto consultivo possui uma força vinculante intrínseca, que lhe vem da complementaridade estrutural existente entre o ofício episcopal, os presbíteros e os leigos»36. O voto consultivo é, portanto, expressão da communio, que «não está fundada no princípio da divisão do poder mas no facto de que a responsabilidade do bispo é indivisível, e não pode ser substituída pela responsabilidade da maioria»37; contudo ele não pode nunca ser menorizado, uma vez que encarna o testemunho da fé, e é um elemento essencial da conspiratio, sobretudo quando expressa no momento presente não tanto a fé subjectiva de cada crente tomado individualmente, mas a fé da Igreja.
NOTAS
1 (S. JOÃO CRISÓSTOMO, Exp. in Psalm. 149,1)
2 (Cf. A. JOIN-LAMBERT, Les liturgies des synodes diocésains français 1983-1999, Paris, Cerf, 2004, 61-65.)
3 Esta nova etimologia nem sempre reúne unanimidade)
4 Cf. H. WAGNER, «Sínodo/Concílio», in P. EICHER (ed.), Dicionário de conceitos fundamentais
de teologia, S. Paulo, Paulus, 1993, 830.
5 Cf. H. WAGNER, «Sínodo/Concílio», 830.
6 Cf. S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca,
Sigueme, 2007, 565.
7 Outros indicam como primeiro sínodo o convocado pelo Papa Vítor em 190.
8 Cf. Y. CHIRON, Histoire des conciles, Paris, Pérrin, 2011, 6.
9 Cf. para essa história a obra de Y. CHIRON, Histoire des conciles.
10 Cf. G. ZITO, «La figura del vescovo lungo i secoli. Profilo storico fino al Concilio Vaticano I», in V. PERI (ed.), La comunione con il vescovo. Profili storici, biblici, teologici, Roma, Unione Apostolica del Clero, 2009, 16.
11 Cf. J. DANIÉLOU, «Des origines à la fin du troisième siècle», in L.-J. ROGIER - R. AUBERT - M.
D. KNOWLES, Nouvelle histoire de l'Eglise, I, Paris, Du Seuil, 1963, 139-140.
12 J. DANIÉLOU, «Des origines à la fin du troisième siècle», 141.
13 Cf. G. ZITO, «La figura del vescovo lungo i secoli», 18.
14 Cf. Adv. Haer. III,3,1-4,3.
15 Cf. G. ZITO, «La figura del vescovo lungo i secoli», 18.
16 Cf. J. DANIÉLOU, «Des origines à la fin du troisième siècle», 141: «Roma não aparece como apenas a representante das diversas tradições herdadas dos Apóstolos. Ou antes, representa uma dessas tradições, a de Pedro. Mas esta Tradição aparece investida duma autoridade particular».
17 Cf. J. P. PAIVA, «Sínodos diocesanos. I Época medieval e moderna», in C. AZEVEDO (ed.), Dicionário de história religiosa de Portugal IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, 240-241.
18 «Como antigamente foi estabelecido pelos Santos Padres, os metropolitas não deixem de celebrar todos os anos com os seus sufragâneos os concílios provinciais; neles tratem diligentemente, no temor de Deus, da correção dos abusos e da reforma dos costumes, especialmente no clero; releiam-se as normas canónicas, e especialmente o que foi estabelecido neste concílio geral, para que sejam feitas observar, infligindo as devidas penas aos transgressores. [...] O que for estabelecido, deverá ser observado e publicado nos sínodos episcopais, que devem ser celebrados anualmente em cada diocese» (can. 6).
19 Cf. G. ALBERIGO et al. (ed.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna, EDB, 1991, 473-476.
20 Cf. J. P. PAIVA, «Sínodos diocesanos. I Época medieval e moderna», 242-246. O último sínodo diocesano de Lisboa foi convocado em 1640.
21 J. RATZINGER, La comunione nella Chiesa, Milano, S. Paolo, 2004, 135. O Concílio diz: o «sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano» (LG 1).
22 Cf. J. RATZINGER, La comunione nella Chiesa, 137.
23 J. RATZINGER, La comunione nella Chiesa, 138.
24 J. RATZINGER, La comunione nella Chiesa, 67.
25 B. BOBRINSKOY, Le mystère de l'Eglise, Paris, 2003, 157-158, cit. in S. PIÉ-NINOT, Eclesiología, 566.
26 Cf. GS 36: «Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo, trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador».
27 Cf. J. RATZINGER, «Democratizzazione della Chiesa?», in J. RATZINGER - H. MEIER, Democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti, Brescia, Queriniana, 2005, 42.
28 Cf. Y. CONGAR, «Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet», in Révue historique de droit français et étranger 36 (1958) 210-259.
29 Cf. K. LEHMANN, «Legitimación dogmática de una democratización en la Iglesia», in Concilium 63 (1971) 371: «apenas se se considera o ministério na sua origem cristológica última se poderá entender que apenas dali lhe advém a responsabilidade irreversível, não separável da comunidade, mas que não pode derivar só dela, mas antes que pertence à vontade fundacional de Jesus Cristo, "ao direito constitucional imutável da Igreja". É evidente que isto não exclui uma participação da comunidade, por exemplo, na nomeação de um ministro».
30 J. RATZINGER, «Democratizzazione della Chiesa?», 50-51.
31 «Itaque plurimum in Domino confisi advenisse temporum opportunitatem pro Immaculata sanctissimae Dei Genetricis Virginis Mariae Conceptione definienda, quam divina eloquia, veneranda traditio, perpetuus Ecclesiae sensus, singularis catholicorum antistitum, ac fidelium conspiratio et insignia Praedecessorum nostrorum acta, constitutiones mirifice illustrant atquc declarant». O Papa Pio XII retomou a fórmula em 1950, na Constituição Munificentissimus Deus, 12.
32 Cf. M. SHARKEY, «Newman on the Laity», 3, cit. in http://www.ewtn.com/library/Theology/NEWMANLAY.HTM [16/09/14, 16:58].
33 M. SHARKEY, «Newman on the Laity», 3.
34 M. SHARKEY, «Newman on the Laity», 3.
35 J. H. NEWMAN, «On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine cit. in
http://www.ewtn.com/library/Theology/NEWMANLAY.HTM [16/09/14, 16:58].
36 S. PIÉ-NINOT, Eclesiología, 572.
37 S. PIÉ-NINOT, Eclesiología, 572.
+ Nuno Braz, Bispo Auxiliar de Lisboa
Conferência proferida na Reunião de Vigários, Seminário dos Olivais, 30 de Setembro de 2014
Os pobres não podem esperar
 Depois de dez longos meses, finalmente chegou ao Porto o seu novo bispo, D. António Francisco dos Santos.
Depois de dez longos meses, finalmente chegou ao Porto o seu novo bispo, D. António Francisco dos Santos.
Aqui ficam as palavra que foram proferidas na sua homilia, na entrada solene na Diocese do Porto.
1. Olhar o tempo e a história com o olhar de Deus
Irmãos e Irmãs
Há dez anos fui chamado pelo Papa João Paulo II para servir a Igreja de Braga, como seu Bispo Auxiliar, atribuindo-me a Igreja titular de Meinedo, no território desta Igreja Portucalense. Passados dois anos, o Santo Padre Bento XVI enviou-me à Igreja Aveirense como seu Bispo. Agora, é o Papa Francisco que me chama a servir a Igreja do Porto.
Indiquei para dia da minha ordenação episcopal o dia 19 de Março, confiando o meu ministério aos cuidados de S. José e desejando aprender com ele as virtudes da simplicidade, da bondade e da disponibilidade.
Juntei a esta primeira intenção, ao escolher o dia do Pai, a evocação da memória abençoada de meu pai, que perdera lá longe no Brasil, quando eu tinha apenas quinze anos.
Via e vejo em S. José, que nesse dia a Igreja celebra, um homem tranquilo, respaldado na verdade da vida e na serenidade da consciência. Nele se unem, para mim, o recolhimento interior e a prontidão obediente diante do inesperado desafio da missão.
O projecto de Deus vai sobrepor-se aos seus planos pessoais. O sonho de Deus vai tomar a dianteira diante dos seus horizontes particulares. A ideia que ele tinha feito de uma vida discreta, simples e agradável, vivida na sua terra, é ultrapassada, porque se sente associado à aventura de Deus entre os homens. E aí começam os caminhos novos que o levam de Nazaré a Belém e de Belém ao Egipto, partilhando a sorte dos que não têm casa nem pátria, dos desenraizados e dos peregrinos.
No silêncio de José serão sepultadas todas as suas dores e interrogações. Acompanham-no apenas as responsabilidades da missão, as alegrias de seguir a voz de Deus e as esperanças de quem crê no Senhor e n'Ele coloca a sua confiança.
Propus-me, na hora da ordenação episcopal, envolvido pelo carinho das gentes de Lamego, a minha Igreja-Mãe, cuja ternura materna se espelhava no rosto sofrido da minha Mãe, a braços com grave e prolongada doença, colocar-me nas mãos de Deus – "In manus tuas". Fiz desta decisão o meu lema episcopal.
2. O ministério da bondade e o magistério da proximidade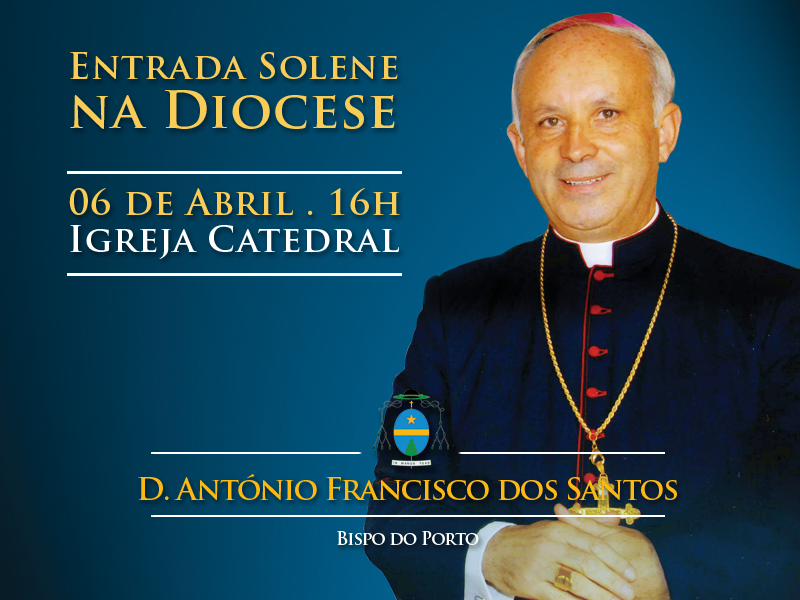
Nos Evangelhos, os discípulos de Jesus aparecem como homens fortes, corajosos, trabalhadores, mas no seu íntimo sobressai uma grande ternura, que não é virtude dos fracos, antes pelo contrário denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude e de compaixão. Não devemos ter medo da bondade. Só pela bondade aprenderemos a fazer do poder um serviço, da autoridade uma proximidade e do ministério uma paixão pela missão de anunciar a alegria do evangelho. O evangelho é tudo o que temos e somos.
As Igrejas Diocesanas que servi, mas sobretudo ultimamente a Igreja de Aveiro, acompanhar-me-ão sempre como bênção, de que preciso, e como renovado incentivo ao serviço humilde, concreto, rico de fé e cheio de alegria. Obrigado, Igreja de Aveiro! Obrigado Aveirenses!
A todos, nestas Igrejas Diocesanas procurei amar e servir. Sinto-me hoje acompanhado na amizade e na oração pelos sacerdotes, diáconos, consagrados e leigos, pelas autoridades locais e pelas gentes simples, cuja presença amiga e dedicada de todos, nesta Igreja Catedral, tanto me penhora e sensibiliza.
Assim quero, a partir de hoje, continuar na Igreja do Porto. Apenas quem serve com amor e ternura, que são as linhas do rosto de compaixão e de misericórdia de Deus, é capaz de cuidar, de proteger, de promover e de salvar o seu Povo. Por isso, irmãos e irmãs, ajudai-me a ser pastor ao jeito do coração de Deus e a seguir em todos os passos o exemplo de Cristo, o belo e bom Pastor.
3. Mensageiro da esperança
O profeta Ezequiel, na primeira leitura da liturgia deste domingo, lembrava-nos que Deus oferece uma vida nova ao povo que se sentia sem futuro e sem esperança e coloca esse mesmo povo numa dinâmica que recria o seu coração e faz renascer a vida.
É esta a certeza confirmada pelo milagre da vida dada a Lázaro, testemunhada por familiares e amigos, que se abrem à fé em Jesus Cristo, como narra o texto do Evangelho.
Na segunda leitura de hoje, S. Paulo dizia aos cristãos de Roma: "Se Cristo está em vós, o Espírito está vivo" (Rm 8, 8-1). É este Espírito de Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos que nos dá a vida, a ressurreição e a esperança.
A esperança que quero levar no horizonte dos caminhos da Igreja do Porto, que nos foram abertos por Jesus Cristo, é a forma que encontro de traduzir desde o Antuã ao Ave, desde o Mar ao Marão, "as boas notícias de Deus".
Compreendereis, assim, que faça, também aqui, como fiz sempre e em todo o lado, das Bem-aventuranças do Reino o padrão do meu viver e o paradigma do meu ministério. Convoco-vos para sermos mensageiros e protagonistas das Bem-aventuranças numa linguagem serena, positiva e confiante, como expressão da voz de toda a Igreja do Porto.
Sabemo-nos filhos abençoados de Deus e discípulos felizes de Jesus, o Mestre das Bem-aventuranças. Nenhum de nós se imagine filho menor de Deus ou se considere filho esquecido da Igreja.
Merecem-me uma primeira palavra de comunhão e de gratidão, na alegria do acolhimento fraterno e da colaboração dedicada que me oferecem os irmãos Bispos D. Pio Alves, D. António Taipa e D. João Lavrador com quem vou trabalhar, os Bispos Eméritos que aqui vivem e os Bispos naturais da nossa Diocese.
Neles e com eles saúdo o senhor Núncio Apostólico, que nos vincula na comunhão e na unidade ao Santo Padre, o Papa Francisco, de quem recebi as Cartas Apostólicas. Saúdo o Senhor D. Jorge Ortiga, Arcebispo-Primaz de Braga e nosso Metropolita, o senhor D. António Marto, Vice-Presidente da Conferência Episcopal, e saúdo-vos, irmãos Bispos de Portugal, cuja presença me sensibiliza, ajuda e encoraja.
Saúdo com afecto cordial e comunhão fraterna os representantes de outras Confissões Cristãs que, com a Igreja do Porto e comigo, quisestes partilhar a alegria e a missão desta hora.
Neste momento de acrescida e nova missão, mais necessários e preciosos são os Irmãos. Sempre assim vi os sacerdotes. Assim vamos viver e trabalhar, caríssimos sacerdotes! Unidos no ministério e congregados na missão estaremos sempre na vanguarda da alegria do Evangelho e da certeza da comunhão. Somos percursores e cireneus uns dos outros. Seremos sempre irmãos. Sejamos sempre, também, discípulos felizes de Jesus e por Ele enviados em missão para amar servir esta Igreja do Porto.
Quero caminhar convosco, caros diáconos permanentes, para agradecer a bênção que constituís para a Igreja e para vos ajudar a aprofundar o sentido da vossa missão e a valorizar o dom do vosso ministério.
Envio, através de cada um de vós, presbíteros e diáconos, uma saudação de afecto e de presença a todos os presbíteros e diáconos da nossa Diocese, sobretudo aos idosos e doentes ou àqueles que vivem momentos de provação, para que nenhum deles fique privado deste gesto de bênção, que aqui celebramos, nem se sinta distante desta comunhão de irmãos no ministério ordenado, que a partir de agora vivenciamos e testemunhamos.
Quero saudar os seminaristas e ver neles sinais de esperança e certezas de futuro, marcado que estou pela experiência e pela alegria de que, se rezarmos e trabalharmos, nunca faltarão servidores generosos e felizes da Messe nesta Igreja do Porto.
Sei que são muitos os(as) consagrados (as) que, na nossa Diocese, vivem, a radicalidade da entrega a Deus e do serviço ao mundo, na vida contemplativa ou activa, de que tanto necessitamos. Caminhemos juntos. Mobilizemo-nos para a missão em frentes e periferias, tão próprias dos vossos carismas, onde a ousadia profética deve andar a par com o realismo dos desafios da Igreja, com as necessidades do mundo e com as urgências do nosso tempo.
Convosco, irmãs e irmãos, crianças, jovens, famílias, idosos e doentes, somos verdadeiro Povo de Deus. Quero, no belo e sempre actual dizer de Santo Agostinho, ser bispo para vós e irmão convosco. Aos pastores pede-se que nunca vos faltem com o estímulo e a alegria do Evangelho de Cristo e com a sua presença fraterna.
Sei como é imensa esta riqueza da vida laical, nos milhares de catequistas, colaboradores litúrgicos e agentes socio-caritativos, bem como de responsáveis por grupos e movimentos presentes e intervenientes na sociedade. A tudo e a todos quero atender, acompanhar e interligar cada vez mais, respeitando a índole própria de cada qual, neste trabalho em rede diocesana, vicarial e paroquial, qual mesa comum com lugar para todos.
A nossa Diocese do Porto vem de longe com uma bela história de caminho de leigos esclarecidos, conscientes e responsáveis, inseridos na vida e na cultura do nosso tempo e com uma reconhecida audácia de missão. Todos somos necessários e imprescindíveis!
4.No horizonte da missão
Não trago comigo planos prévios ou antecipados programas de acção. Eles surgirão à medida do sonho de Deus e da sua vontade divina para esta Igreja do Porto. Estaremos atentos ao que o Espírito de Deus nos inspirar. Saberemos ajoelhar diante de Deus em oração, para servir de pé, com passos serenos mas decididos, a Igreja e o mundo, como nos ensinou D. António Ferreira Gomes, generoso servidor desta Igreja, que partiu ao encontro de Deus faz agora vinte e cinco anos. Evoco a grata figura dos meus mais imediatos predecessores: D. Júlio Tavares Rebimbas e D. Armindo Lopes Coelho. Vinculo-me no caminho feito ao longo do tempo, generosa e sabiamente assumido por D. Manuel Clemente, e dedicadamente continuado por D. Pio Alves, Administrador Apostólico, e por D. António Taipa e D. João Lavrador, servidores incansáveis da Igreja do Porto, pelos dedicados Vigários Gerais, pelo Cabido da Catedral, pelo Clero, Consagrados e Leigos de toda a Diocese.
Na acção pastoral darei lugar determinante aos órgãos eclesiais de participação e de corresponsabilidade que existem para fomentar a comunhão geral de quantos, nas paróquias, institutos religiosos e seculares, associações e movimentos, integram o corpo vivo que é a Igreja de Cristo, com toda a riqueza carismática e ministerial que o Espírito cria.
Desejo aprender, dia a dia, a história da Igreja do Porto, sentir os seus dinamismos, ler e reler o evangelho em chave de missão com o olhar colocado no horizonte do futuro, onde Deus nos precede. Procurarei acolher a bênção que constituiu para nós a "Missão 2010", a visita do Papa Bento XVI à nossa cidade, a vivência do "Ano da Fé" e tantos outros sinais presentes e impressos no coração disponível de mais de dois milhões de habitantes da nossa terra.
Temos todos nós características próprias de povo consistente e nortenho, consolidado por uma longa história de dificuldades e vitórias, em que preponderou a tenacidade e a criatividade das nossas gentes. A história e o trabalho deram ao Porto e à Comunidade humana que somos alguns traços de carácter que, sendo reconhecidos, são também motivo de esperança forte para o nosso futuro.
Tal se verifica, com admiração e surpresa, na grande quantidade e geral qualidade das suas instituições cívicas, culturais, académicas, hospitalares, desportivas e filantrópicas, onde gerações de homens e de mulheres dão o seu melhor, para que sejam atendidas as mais diversas necessidades e fomentadas as capacidades de ser e conviver.
O mesmo se revela na grande capacidade de criar, empreender e inovar, com que em tanto lado se tem conseguido resistir e até superar as grandes dificuldades que nos atingem nesta crise por demais arrastada. Muito em especial, por corresponderem com urgência a necessidades que não podem esperar, salientam-se as iniciativas que vão ao encontro de problemas imediatos, da alimentação à saúde, da habitação aos recursos mínimos. Em tudo isto, grande é a alma portuense, solidária e exemplar até para o todo nacional!
Nesta bela e nobre história da Diocese do Porto esteve sempre presente uma plena inserção na Terra que somos e na Sociedade que formamos. Saúdo as Autoridades presentes aos seus diferentes níveis. O diálogo será timbre do meu viver e caminho do meu encontro com todos.
O serviço da vida, a procura da bem comum, o valor da dignidade humana, o respeito pela liberdade e o esforço da coesão social serão, entre tantos outros, espaços de encontro e caminhos de vida feliz para as gentes da nossa Terra. Que não haja entre nós nenhum momento em que o bem comum seja proibido ou não seja procurado!
Sejamos ousados, criativos e decididos sempre mas sobretudo quando e onde estiverem em causa os frágeis, os pobres e os que sofrem. Esses devem ser os primeiros porque os pobres não podem esperar! Temos na história da Igreja do Porto "modelos de caridade" que nos podem guiar neste caminho.
Sei do valor das Escolas, das Universidades, da Comunicação Social e do seu imprescindível trabalho ao serviço do bem, da verdade, da cultura e da educação. O diálogo entre a razão e a fé merece e exige da Igreja lugar de escuta e tempo dado aos que procuram Deus.
Com tudo o que se lembra, igualmente se agradece a Deus o que a magnífica Diocese do Porto foi, é e continuará a ser, para a glória de Deus, como lugar de profecia de uma humanidade viva e de um mundo justo.
Também aqui a fé e o evangelho são a porta que nos abre para um caminho novo na Igreja e no mundo. Há uma conexão íntima entre a evangelização, a promoção humana e o desenvolvimento dos povos, de modo a que a verdadeira esperança cristã gere história, dê sentido à hora que vivemos e apresse um futuro melhor.
5. Da memória à profecia – a Alegria do Evangelho
Reli a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, com o olhar voltado para o Porto e com o coração aberto à nova missão que o Papa Francisco me confia. Este texto histórico da Igreja tem de inspirar também o nosso caminho na Igreja do Porto.
É dever e urgência da Igreja trilhar caminhos de evangelização, com novos métodos e acrescido vigor. Desejo que todos sintam que Cristo pode preencher as nossas vidas com um novo esplendor e uma alegria profunda, mesmo no meio das provações (167).
Sintamo-nos convocados para a missão. Aprofundemos a dimensão espiritual do nosso viver. Sejamos evangelizadores com espírito, que rezam e trabalham, (262), motivados pelo amor que recebemos de Jesus (264).
Assim edificaremos comunidades vivas de fé, de amor e de dinamismo missionário, mobilizaremos e formaremos adequadamente os agentes da pastoral e renovaremos as estruturas pastorais desta amada Igreja do Porto.
Que Nossa Senhora da Assunção, Padroeira da Diocese e desta Catedral, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos ensine, abençoe e proteja, para que saibamos que o seu exemplo, terno e materno, foi e será sempre nossa escola de vida, de fé e de missão. Ámen.
Igreja Catedral do Porto, 6 de Abril de 2014
+ António, bispo do Porto
Carta Pastoral sobre ideologia do género
 A Conferência Episcopal Portuguesa aprovou uma Carta Pastoral "A propósito da Ideologia de Género", em que é feita uma afirmação de princípios sobre a verdade do amor humano.
A Conferência Episcopal Portuguesa aprovou uma Carta Pastoral "A propósito da Ideologia de Género", em que é feita uma afirmação de princípios sobre a verdade do amor humano.
O documento, que a seguir se reproduz, alerta para os perigos da ideologia do género e, inspirados pela visão cristã da sexualidade, os bispos recordam princípios baseados no realismo inalienável da nossa matriz antropológica, como homens e mulheres.
A propósito da ideologia do género
Difunde-se cada vez mais a chamada ideologia do género ou gender. Porém, nem todas as pessoas disso se apercebem e muitos desconhecem o seu alcance social e cultural, que já foi qualificado como verdadeira revolução antropológica. Não se trata apenas de uma simples moda intelectual. Diz respeito antes a um movimento cultural com reflexos na compreensão da família, na esfera política e legislativa, no ensino, na comunicação social e na própria linguagem corrente.
Mas a ideologia do género contrasta frontalmente com o acervo civilizacional já adquirido. Como tal, opõe-se radicalmente à visão bíblica e cristã da pessoa e da sexualidade humanas. Com o intuito de esclarecer as diferenças entre estas duas visões surge este documento. Move-nos o desejo de apresentar a visão mais sólida e mais fundante da pessoa, milenarmente descoberta, valorizada e seguida, e para a qual o humanismo cristão muito contribuiu. Acreditamos que este mesmo humanismo, atualmente, é chamado a dar contributo válido na redescoberta da profundidade e beleza de uma sexualidade humana corretamente entendida.
Trata-se da defesa de um modelo de sexualidade e de família que a sabedoria e a história, não obstante as mutações culturais, nos diferentes contextos sociais e geográficos, consideram apto para exprimir a natureza humana.
1. A pessoa humana, espírito encarnado
Antes de mais, gostaríamos de deixar bem claro que, para o humanismo cristão, não há lugar a dualismos: o desprezo do corpo em nome do espírito ou vice-versa. O corpo sexuado, como todas as criaturas do nosso Deus, é produto bom de um Deus bom e amoroso. Uma segunda verdade a considerar na visão cristã da sexualidade é a da pessoa humana como espírito encarnado e, por isso, sexuado: a diferenciação sexual correspondente ao desígnio divino sobre a criação, em toda a sua beleza e plenitude: «Ele os criou homem e mulher» (Gn 1,27); «Deus, vendo toda sua obra, considerou-a muito boa» (Gn 1,31).
A corporalidade é uma dimensão constitutiva da pessoa, não um seu acessório; a pessoa é um corpo, não tem um corpo; a dignidade do corpo humano é corolário da dignidade da pessoa humana; a comunhão dos corpos deve exprimir a comunhão das pessoas.
Porque a pessoa humana é a totalidade unificada do corpo e da alma, existe necessariamente, como homem ou mulher. Por conseguinte, a dimensão sexuada, a masculinidade ou feminilidade, é constitutiva da pessoa, é o seu modo de ser, não um simples atributo. É a própria pessoa que se exprime através da sexualidade. A pessoa é, assim, chamada ao amor e à comunhão como homem ou como mulher. E a diferença sexual tem um significado no plano da criação: exprime uma abertura recíproca à alteridade e à diferença, as quais, na sua complementaridade, se tornam enriquecedoras e fecundas.
2. Confrontados com uma forte mudança cultural
Reconhecemos, sem dúvida, que, no longo caminho do amadurecimento cultural e civilizacional, nem sempre se atribuiu aos dois âmbitos do humano (o masculino e o feminino) o mesmo valor e semelhante protagonismo social. Especialmente a mulher, não raramente, foi vítima de forte sujeição ao homem e sofreu alguma menorização social e cultural. Graças a Deus, tais situações estão progressivamente a ser ultrapassadas e a condição feminina, antigamente conotada com a ideia de opressão, hoje está a revelar-se como enorme potencial de humanização e de desenvolvimento harmonioso da sociedade.
No desejo de ultrapassar esta menoridade social da mulher, alguns procederam a uma distinção radical entre o sexo biológico e os papéis que a sociedade, tradicionalmente, lhe outorgou. Afirmam que o ser masculino ou feminino não passa de uma construção mental, mais ou menos interessada e artificial, que, agora, importaria desconstruir. Por conseguinte, rejeitam tudo o que tenha a ver com os dados biológicos para se fixarem na dimensão cultural, entendida como mentalidade pessoal e social. E, por associação de ideias, passou-se a rejeitar a validade de tudo o que tenha a ver com os tradicionais dados normativos da natureza a respeito da sexualidade (heterossexualidade, união monogâmica, limite ético aos conhecimentos técnicos ligados às fontes da vida, respeito pela vida intra-uterina, pudor ou reserva de intimidade, etc.). É todo este âmbito mental que se costuma designar por ideologia do género ou gender.
A ideologia do género surge, assim, como uma antropologia alternativa, quer à judaico-cristã, quer à das culturas tradicionais não ocidentais. Nega que a diferença sexual inscrita no corpo possa ser identificativa da pessoa; recusa a complementaridade natural entre os sexos; dissocia a sexualidade da procriação; sobrepõe a filiação intencional à biológica; pretende desconstruir a matriz heterossexual da sociedade (a família assente na união entre um homem e uma mulher deixa de ser o modelo de referência e passa a ser um entre vários).
3. Os pressupostos da ideologia do género
Esta teoria parte da distinção entre sexo e género, forçando a oposição entre natureza e cultura. O sexo assinala a condição natural e biológica da diferença física entre homem e mulher. O género baliza a construção histórico-cultural da identidade masculina e feminina. Mas, partindo da célebre frase de Simone de Beauvoir, «uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher», a ideologia do género considera que somos homens ou mulheres não na base da dimensão biológica em que nascemos, mas nos tornamos tais de acordo com o processo de socialização (da interiorização dos comportamentos, funções e papéis que a sociedade e cultura nos distribui). Papéis que, para estas teorias, são injustos e artificiais. Por conseguinte, o género deve sobrepor-se ao sexo e a cultura deve impor-se à natureza.
Como, para esta ideologia, o género é uma construção social, este pode ser desconstruído e reconstruído. Se a diferença sexual entre homem e mulher está na base da opressão desta, então qualquer forma de definição de uma especificidade feminina é opressora para a mulher. Por isso, para os defensores do gender, a maternidade, como especificidade feminina, é sempre uma discriminação injusta. Para superar essa opressão, recusa-se a diferenciação sexual natural e reconduz-se o género à escolha individual. O género não tem de corresponder ao sexo, mas pertence a uma escolha subjetiva, ditada por instintos, impulsos, preferências e interesses, o que vai para além dos dados naturais e objetivos.
O gender sustenta a irrelevância da diferença sexual na construção da identidade e, por consequência, também a irrelevância dessa diferença nas relações interpessoais, nas uniões conjugais e na constituição da família. Se é indiferente a escolha do género a nível individual, podendo escolher-se ser homem ou mulher independentemente dos dados naturais, também é indiferente a escolha de se ligar a pessoas de outro ou do mesmo sexo. Daqui a equiparação entre uniões heterossexuais e homossexuais. Ao modelo da família heterossexual sucedem-se vários tipos de família, tantos quantas as preferências individuais, para além de qualquer modelo de referência. Deixa de se falar em família e passa a falar-se em famílias. Privilegiar a união heterossexual afigura-se-lhe uma forma de discriminação. Igualmente, deixa de se falar em paternidade e maternidade e passa a falar-se, exclusivamente, em parentalidade, criando um conceito abstrato, pois desligado da geração biológica.
4. Reflexos da afirmação e difusão da ideologia do género
A afirmação e difusão da ideologia do género pode notar-se em vários âmbitos. Um deles é o dos hábitos linguísticos correntes. Vem-se generalizando, a começar por documentos oficiais e na designação de instituições públicas, a expressão género em substituição de sexo (igualdade de género, em vez de igualdade entre homem e mulher), tal como a expressão famílias em vez de família, ou parentalidade em vez de paternidade e maternidade. Muitas pessoas passam a adotar estas expressões por hábito ou moda, sem se aperceberem da sua conotação ideológica. Mas a generalização destas expressões está longe de ser inocente e sem consequências. Faz parte de uma estratégia de afirmação ideológica, que compromete a inteligibilidade básica de uma pessoa, por vezes, tendo consequências dramáticas: incapacidade de alguém se situar e definir no que tem de mais elementar.
Os planos político e legislativo são outro dos âmbitos de penetração da ideologia do género, que atinge os centros de poder nacionais e internacionais. Da agenda fazem parte as leis de redefinição do casamento de modo a nelas incluir uniões entre pessoas do mesmo sexo (entre nós, a Lei nº 9/2010, de 31 de maio), as leis que permitem a adoção por pares do mesmo sexo (em discussão entre nós, na modalidade de co-adoção), as leis que permitem a mudança do sexo oficialmente reconhecido, independentemente das caraterísticas fisiológicas do requerente (Lei nº 7/2011, de 15 de março), e as leis que permitem o recurso de uniões homossexuais e pessoas sós à procriação artificial, incluindo a chamada maternidade de substituição (a Lei nº 32/2006, de 26 de julho, não contempla a possibilidade referida).
Outro âmbito de difusão da ideologia do género é o do ensino. Este é encarado como um meio eficaz de doutrinação e transformação da mentalidade corrente e é nítido o esforço de fazer refletir na orientação dos programas escolares, em particular nos de educação sexual, as teses dessa ideologia, apresentadas como um dado científico consensual e indiscutível. Esta estratégia tem dado origem, em vários países, a movimentos de protesto por parte dos pais, que rejeitam esta forma de doutrinação ideológica, porque contrária aos princípios nos quais pretendem educar os seus filhos. Entre nós, a Portaria nº 196-A/2010, de 9 de abril, que regulamenta a Lei nº 60/2009, de 6 de agosto, relativa à educação sexual em meio escolar, inclui, entre os conteúdos a abordar neste âmbito, sexualidade e género.
5. O alcance antropológico da ideologia do género
Importa aprofundar o alcance da ideologia do género, pois ela representa uma autêntica revolução antropológica. Reflete um subjetivismo relativista levado ao extremo, negando o significado da realidade objetiva. Nega a verdade como algo que não pode ser construído, mas nos é dado e por nós descoberto e recebido. Recusa a moral como uma ordem objetiva de que não podemos dispor. Rejeita o significado do corpo: a pessoa não seria uma unidade incindível, espiritual e corpórea, mas um espírito que tem um corpo a ela extrínseco, disponível e manipulável. Contradiz a natureza como dado a acolher e respeitar. Contraria uma certa forma de ecologia humana, chocante numa época em que tanto se exalta a necessidade de respeito pela harmonia pré-estabelecida subjacente ao equilíbrio ecológico ambiental. Dissocia a procriação da união entre um homem e uma mulher e, portanto, da relacionalidade pessoal, em que o filho é acolhido como um dom, tornando-a objeto de um direito de afirmação individual: o "direito" à parentalidade.
No plano estritamente científico, obviamente, é ilusória a pretensão de prescindir dos dados biológicos na identificação das diferenças entre homens e mulheres. Estas diferenças partem da estrutura genética das células do corpo humano, pelo que nem sequer a intervenção cirúrgica nos órgãos sexuais externos permitiria uma verdadeira mudança de sexo.
É certo que a pessoa humana não é só natureza, mas é também cultura. E também é certo que a lei natural não se confunde com a lei biológica. Mas os dados biológicos objetivos contêm um sentido e apontam para um desígnio da criação que a inteligência pode descobrir como algo que a antecede e se lhe impõe e não como algo que se pode manipular arbitrariamente. A pessoa humana é um espírito encarnado numa unidade bio-psico-social. Não é só corpo, mas é também corpo. As dimensões corporal e espiritual devem harmonizar-se, sem oposição. Do mesmo modo, também as dimensões natural e cultural. A cultura vai para além da natureza, mas não se lhe deve opor, como se dela tivesse que se libertar.
6. Homem e mulher chamados à comunhão
A diferenciação sexual inscrita no desígnio da criação tem um sentido que a ideologia do género ignora. Reconhecê-la e valorizá-la é assegurar o limite e a insuficiência de cada um dos sexos, é aceitar que cada um deles não exprime o humano em toda a sua riqueza e plenitude. É admitir a estrutura relacional da pessoa humana e que só na relação e na comunhão (no ser para o outro) esta se realiza plenamente.
Essa comunhão constrói-se a partir da diferença. A mais básica e fundamental, que é a de sexos, não é um obstáculo à comunhão, não é uma fonte de oposição e conflito, mas uma ocasião de enriquecimento recíproco. O homem e a mulher são chamados à comunhão porque só ela os completa e permite a continuação da espécie, através da geração de novas vidas. Faz parte da maravilha do desígnio da criação. Não é, como tal, algo a corrigir ou contrariar.
A sociedade edifica-se a partir desta colaboração entre as dimensões masculina e feminina. Em primeiro lugar, na sua célula básica, a família. É esta quem garante a renovação da sociedade através da geração de novas vidas e assegura o equilíbrio harmonioso e complexo da educação das novas gerações. Por isso, nunca um ou mais pais podem substituir uma mãe, e nunca uma ou mais mães podem substituir um pai.
7. Complementaridade do masculino e do feminino
É um facto que algumas visões do masculino e feminino têm servido, ao longo da história, para consolidar divisões de tarefas rígidas e estereotipadas que limitaram a realização da mulher, relegada a um papel doméstico e circunscrita na intervenção social, económica, cultural e política. Mas, na visão bíblica, o domínio do homem sobre a mulher não faz parte do original desígnio divino: é uma consequência do pecado. Esse domínio indica perturbação e perda da estabilidade da igualdade fundamental, entre o homem e a mulher. O que vem em desfavor da mulher, porquanto somente a igualdade, resultante da comum dignidade, pode dar às relações recíprocas o carácter de uma autêntica communio personarum (comunhão de pessoas).
A ideologia do género não se limita a denunciar tais injustiças, mas pretende eliminá-las negando a especificidade feminina. Isso empobrece a mulher, que perde a sua identidade, e enfraquece a sociedade, privada dum contributo precioso e insubstituível, como é a feminilidade e a maternidade. Aliás, a nossa época reconhece – e bem! – a importância da presença equilibrada de homens e mulheres nos vários âmbitos da vida social, designadamente nos centros de decisão económica e política. Mesmo que essa presença não tenha de ser rigidamente paritária, a sociedade só tem a ganhar com o contributo complementar das específicas sensibilidades masculina e feminina.
8. O "génio feminino"
Nesta perspetiva, há que pôr em relevo aquilo que o Papa João Paulo II denominou "génio feminino". Não se trata de algo que se exprima apenas na relação esponsal ou maternal, específicas do matrimónio, como pretenderia uma certo romantismo. Mas estende-se ao conjunto das relações interpessoais e refere-se a todas as mulheres, casadas ou solteiras. Passa pela vocação à maternidade, sem que esta se esgote na biológica. Nesta, entretanto, comprova-se uma especial sensibilidade da mulher à vida, patente no seu desvelo na fase de maior vulnerabilidade e na sua capacidade de atenção e cuidado nas relações interpessoais.
A maternidade não é um peso de que a mulher necessite de se libertar. O que se exige é que toda a organização social apoie e não dificulte a concretização dessa vocação, através da qual a mulher encontra a sua plena realização. É de reclamar, em especial, que a inserção da mulher numa organização laboral, concebida em função dos homens, não se faça à custa da concretização dessa vocação, e se adotem todos os ajustamentos necessários.
9. O papel insubstituível do pai
Não pode, de igual modo, ignorar-se que o homem tem um contributo específico e insubstituível a dar à vida familiar e social, cumprindo a sua vocação à paternidade, que não é só biológica, assumindo a missão que só o pai pode desempenhar cabalmente. Talvez o âmbito em que mais se nota a ausência desse contributo seja o da educação, o que já levou a que se fale do pai como o "grande ausente". Isto pode originar sérias consequências, tais como desorientação existencial dos jovens, toxicodependência ou delinquência juvenil. Se a relação com a mãe é essencial nos primeiros anos de vida, é também essencial a relação com o pai, para que a criança e o jovem se diferenciem da mãe e assim cresçam como pessoas autónomas. Não bastam os afetos para crescer: são necessárias regras e autoridade, o que é acentuado pelo papel do pai.
Num contexto em que se discute a legalização da adoção por pares do mesmo sexo, não é supérfluo sublinhar a importância dos papéis da mãe e do pai na educação das crianças e dos jovens: são papéis insubstituíveis e complementares. Cada uma destas figuras ajuda a criança e o jovem a construir a sua própria identidade masculina ou feminina. Mas também, e porque nem o masculino nem o feminino esgotam toda a riqueza do humano, a presença dessas duas figuras ajudam-nos a descobrir toda essa riqueza, ultrapassando os limites de cada um dos sexos. Uma criança desenvolve se e prospera na interação conjunta da mãe e do pai, como parece óbvio e estudos científicos comprovam.
10. A resposta à afirmação e difusão da ideologia do género
A ideologia do género não só contrasta com a visão bíblica e cristã, mas também com a verdade da pessoa e da sua vocação. Prejudica a realização pessoal e, a médio prazo, defrauda a sociedade. Não exprime a verdade da pessoa, mas distorce-a ideologicamente.
As alterações legislativas que refletem a mentalidade da ideologia do género -concretamente, a lei que, entre nós, redefiniu o casamento - não são irreversíveis. E os cidadãos e legisladores que partilhem uma visão mais consentânea com o ser e a dignidade da pessoa e da família são chamados a fazer o que está ao seu alcance para as revogar.
Se viermos a assistir à utilização do sistema de ensino para a afirmação e difusão dessa ideologia, é bom ter presente o primado dos direitos dos pais e mães quanto à orientação da educação dos seus filhos. O artigo 26º, nº 3, da Declaração Universal dos Direitos Humanos estatui que «aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação dos seus filhos». E o artigo 43º, nº 2, da nossa Constituição estabelece que «o Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas».
De qualquer modo, a resposta mais eficaz às afirmações e difusão da ideologia do género há de resultar de uma nova evangelização. Trata-se de anunciar o Evangelho como este é: boa nova da vida, do amor humano, do matrimónio e da família, o que corresponde às exigências mais profundas e autênticas de toda a pessoa. A esse anúncio são chamadas, em especial, as famílias cristãs, antes de mais, mediante o seu testemunho de vida.
Fátima, 14 de novembro de 2013
Conferência Episcopal Portuguesa
Mensagem de Boas Festas de Natal

Neste tempo de Natal, queremos levar a cada um dos nossos concidadãos, especialmente aos cristãos das nossas dioceses, uma mensagem de solidariedade e de esperança.
Celebramos o nascimento de Cristo, Deus infinito que Se fez um de nós, assumindo todas as vicissitudes dos seres humanos. Nasceu numa gruta da periferia de Belém, pois Maria e José não conseguiram encontrar uma casa na cidade para os acolher.
O presente clima social não sugere muito «Boas Festas». Escasseiam empregos e bens materiais. É urgente estreitar os laços da família e dos vários círculos de relações e solidariedades; é fundamental comunicarmos com Deus, que em Jesus se torna o mais próximo dos nossos próximos.
Contemplar o mistério da encarnação de Jesus é acolher o pobre, como nos recorda a Mensagem enviada pelo recente Sínodo dos Bispos: «Nas nossas comunidades, deve dar-se um lugar privilegiado aos pobres, um lugar que não exclui ninguém, mas pretende ser um reflexo de como Jesus Se ligou a eles. A presença do pobre nas nossas comunidades é misteriosamente poderosa: muda as pessoas, mais do que um discurso; ensina fidelidade, permite compreender a fragilidade da vida, pede oração; em suma, leva a Cristo. O gesto da caridade, por sua vez, exige ser acompanhado pelo empenho em favor da justiça, com um apelo que a todos envolve, pobres e ricos» (n. 12).
Só quem oferece Natal aos outros pode ter Natal para si. Que os gestos de entreajuda, solidariedade e partilha se multipliquem. A autêntica alegria das Boas Festas está na dádiva altruísta e generosa.
Haverá Boas Festas se o outro for o centro das nossas atenções e serviços, vencendo confortos e rotinas egoístas, tal como Deus que fez de nós o seu centro, oferecendo se em pessoa no Jesus do Natal em Belém.
Haverá Boas Festas se soubermos presentear tempo, carinho e ofertas a pessoas que vivem sozinhas, a doentes, crianças ou idosos, e a obras de serviço social. Que a tradicional troca de prendas seja aproveitada para escolher ofertas que sejam ajuda para quem precisa.
Haverá Boas Festas se deixarmos que Jesus nasça no melhor dos presépios, que é o nosso coração, e, neste Ano da Fé, aderirmos mais de alma e coração à pessoa de Jesus. Ele será a nossa força para «intensificar o testemunho de caridade» (Bento XVI, Porta Fidei, 14). Como recordou também recentemente o Santo Padre, falando a nossa língua, «a fé não é um peso, mas uma profunda alegria que transforma toda a vida» (2012.11.28).
O Natal é também uma especial festa da família. Tudo o que possamos fazer para reforçar os laços familiares será humanamente louvável e agradável a Deus, que Se fez da nossa família pelo seu nascimento, nosso irmão universal. Em tempos de crise, mais essencial se torna a solidariedade familiar, o acolhimento e ajuda aos membros que passam por maiores dificuldades.
Queremos fazer eco do cântico dos anjos na noite de Natal: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama», independentemente de culturas, ideologias e credos. A cada um de vós e às vossas famílias desejamos um santo Natal.
Fátima, 11 de Dezembro de 2012
Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa